Meus primeiros textos sobre arte contemporânea, no início de novembro, foram, por assim dizer, desinteressados. Eu comentava algumas exposições e levantava algumas questões, mas sem muita pretensão de levar adiante o assunto. Dois fatores me motivaram a aprofundar a investigação: a quantidade e o tom das reações, em geral, e um texto em particular enviado por uma leitora, em francês, intitulado Como se processa o reconhecimento da arte contemporânea. (Quem tiver curiosidade procure nos arquivos deste blog).
Um e outro sinalizaram de forma muito clara para mim que a situação era mais séria do que eu imaginava. Pois tanto as respostas que meus textos provocaram quanto o texto teórico em francês revelavam uma fragilidade impressionante na argumentação. Se este é o pensamento que a produção artística contemporânea é capaz de gerar, se este é o pensamento que sustenta intelectualmente esta produção, pensei, acho que o assunto merece uma investigação mais profunda. E me deidiquei um pouco a isso, não como crítico, mas por curiosidade jornalística.
Desde então venho apresentando algumas hipóteses que podem, naturalmente, ser contestadas - e podem, é claro, estar equivocadas. Mas devo dizer que muito do que tem chegado em forma de comentários e muito do que tenho lido reforça a validade dessas hipóteses.
Por exemplo, em relação à crítica de arte, tenho batido na tecla de que o crítico virou um escrevedor de catálogos, abrindo mão de seu papel de intermediário no sistema para simplesmente endossar o que este sistema designa como arte. Pois bem, acabo de bater os olhos numa entrevista do Rodrigo Naves, crítico e teórico mais do que respeitado no meio, e lá pelas tantas ele declara o seguinte (Revista Número, dezembro de 2005):
"(...) eu parei de fazer crítica de catálogo. Eu acho que é um espaço muito bom para quem está começando aprender a fazer análise de trabalhos, descrição e tal. Como nosso meio ainda é muito pessoal, quando eu passei a ter um pouco mais de nome, se você quiser, isso passou a ser uma encheção de saco. Porque daqui a pouco minha vida era pautada pelo que os outros queriam de mim. Sem dizer que acho que esse espaço para mim foi ficando desinteressante, porque dificilmente você pode criticar alguém num texto de catálogo. Foi ficando desagradável, queriam de mim apenas o endosso."
Acho que nem é cabotinismo dizer que ele confirma o que venho dizendo, e não apenas em relação à crítica, pois Naves vai além:
de fato o meio é muito pessoal. Então criticar é muito dificil. Então eu fico me perguntando se essas relações pessoais não vão, no futuro, gerar outros Portinaris. A atitude que se tem com Hélio Oiticica hoje é uma atitude tão laudatória quanto a de Mario de Andrade diante do Portinari. É claro que o Hélio é muito maior do que Portinari, mas não é possível lidar assim com o trabalho.
(...)
Estava na hora de pegar esses caras que já têm 60 anos, Fajardo, Zé Resende, Tunga, Waltércio Caldas, Iole de Freitas, Cildo Meirelles, por exemplo, e pegar um metro de cem centímetros e ver quantos centímetros eles têm. Eu cansei de ver teses, todo mundo faz teses sobre esses caras, mas em geral não há crítica. Eu acho que tem momentos muito irregulares nesses trabalhos e ninguém nunca falou disso. Falar talvez mas escrever.. eu pelo menos não tenho conhecimento. Eu acho isso um problema, você está criando cobras."
(...)
o que eu tenho me perguntado ultimamente é se os artistas mais significativos contemporâneos são maiores do que os artistas modernos mais significativos. E eu tendo a achar que não. Eu acho que ainda não há ninguém que tenha a densidade do Amílcar, do Volpi, do Camargo, Hélio, Lygia... Curiosamente, um argumento que eu mesmo uso, o meio ficou mais complexo, tem mais gente produzindo, mas isso ainda não produziu trabalhos tão relevantes se comparados com a época mais heróica em que as pessoas tinham que lutar muito para fazer o trabalho, porque enfim não tinha mercado, não tinha nada.
(...)
Se a arte puder contribuir com alguma coisa é para gente poder delinear mais ou menos como é que as coisas estão. Porque o problema é que as coisas perderam muito o contorno. Essa coisa que o Argan falava, de que não existiria a arte moderna sem a idéia de revolução, é uma afirmação meio tosca mas é muito verdadeira. Não que Monet, Manet ou Matisse fossem revolucionários, mas tinham um norte definido
(...)
acho o Jeff Koons um horror (...) No caso do Koons, por exemplo, o cachorrinho que fica no Bilbao, eu acho simpático até, mas acho que, de alguma maneira, faz meta arte. E isto não me interessa. Mostra que de alguma maneira qualquer coisa hoje em dia pode ser arte. Uma espécie de discussão no interior da arte sobre o kitsch, o gosto corrente, que é um pouco o limite que tem o Duchamp. Em resumo: eu acho que Duchamp precisa de um meio de arte para que ele funcione. Matisse precisa menos. (...) Eu não gosto de arte que discute arte. Eu prefiro arte que diz alguma coisa sobre as coisas
Wednesday, January 30, 2008
Monday, January 28, 2008
Falência da crítica, em inglês
O site americano de arte www.absolutearts.com colocou hoje no ar um artigo meu, The Bankruptcy of Criticism. Quem tiver interesse em ler e comentar, clique no link http://blog.absolutearts.com/
___
Monday, January 28th
The Bankruptcy of Criticism, by Luciano Trigo
It is more or less consensual, even among artists themselves, that art criticism lost relevance and power. This happens not only in Brazil: in the United States, England and France it has been the subject matter of heated debates. It is unimaginable the appearance today of a Clement Greenberg (photo) or a Harold Rosenberg, for example, who both exerted a decisive influence in the American Arts in the 50s, 60s and 70s, or, in Brazil, a Mario Pedrosa, who helped building our critical discourse on Modernism. (Nevertheless, Greenberg still is the name which is immediately associated to the figure of the art critic, since contemporary production did not generate any relevant critics - Arthur Danto is too committed with the thesis of the "end of art" to assume that role). (continua)
___
Monday, January 28th
The Bankruptcy of Criticism, by Luciano Trigo
It is more or less consensual, even among artists themselves, that art criticism lost relevance and power. This happens not only in Brazil: in the United States, England and France it has been the subject matter of heated debates. It is unimaginable the appearance today of a Clement Greenberg (photo) or a Harold Rosenberg, for example, who both exerted a decisive influence in the American Arts in the 50s, 60s and 70s, or, in Brazil, a Mario Pedrosa, who helped building our critical discourse on Modernism. (Nevertheless, Greenberg still is the name which is immediately associated to the figure of the art critic, since contemporary production did not generate any relevant critics - Arthur Danto is too committed with the thesis of the "end of art" to assume that role). (continua)
Arte e instituição: a revolução conservadora
Tudo o que venho escrevendo aqui aponta para algumas hipóteses sobre a arte contemporânea (não sobre as obras de arte em si, nem sobre artistas isoladamente, mas sobre o conjunto de práticas e discursos que determinam o estado da arte hoje, isto é, a estrutura simbólica dentro da qual os artistas produzem e difundem suas obras, goste ou não eu delas).
Primeira hipótese: a arte contemporânea promoveu uma revolução conservadora, se comparada às práticas artísticas do período moderno - do começo do século 20, com as vanguardas européias, até meados dos anos 70, quando, por uma série de fatores, os valores e princípos do Modernismo perderam força e começaram a ser substituídos por um novo paradigma, pós-moderno. Conservadora não no sentido político estrito, já que diversas manifestações artísticas têm a pretensão de um conteúdo "de esquerda", mas sim por reverter processos emancipatórios que a arte moderna deflagrou.
A idéia de que a produção contemporânea é “radical” ou “revolucionária” não resiste a qualquer exame sério. Por exemplo: parece inegável que após décadas de um movimento em que a arte confrontava as instituições, nos últimos 20 ou 30 anos verificou-se uma reinstitucionalização clara da atividade artística. Mesmo aquelas práticas que por princípio eram opostas às idéias de museu, coleção e mercado – happenings, instalações, obras deliberadamente efêmeras (tanto nos conceitos quanto nos materiais) – foram apropriadas pelas instituições e pelo mercado.
(Entenda-se por “mercado” não somente o conjunto de negociações financeiras nos estabelecimentos comerciais, leilões e galerias, mas também o conjunto de espaços, institucionais e não-comerciais, como museus e centros culturais, por onde a obra de arte circula e adquire valor. Mesmo que não haja comércio propriamente dito nestes locais, processa-se aí uma troca simbólica de valores que constitui o fundamento do sistema mercantilista. Ver, a essa respeito, A economia das trocas simbólicas, de Pierre Bourdieu)
Nesse processo foram enquadradas e domesticadas práticas que vinham desde o Dadaísmo, e que eram chamadas de site-specific, incluindo a land-art, os earthworks, algumas obras radicais da arte conceituale do minimalismo etc. Todos estes movimentos ou categorias procuraram, de alguma forma, incorporar o local à obra de arte, adicionando-lhe novos significados a partir de dados externos, isto é, que que não pertenciam intrinsecamente à obra.
Outro movimento em que houve um retrocesso evidente foi o de questionamento da noção de "autor" - paralelo às teses de Roland Barthes e Michel Foucault, que demonstraram a constituição histórica da própria idéia de autoria. O pós-modernismo reverteu todas as tentativas de dissociar a criação artística de manifestação de uma individualidade iluminada: hoje o artista ocupa mais do que nunca a posição de pop star, mesmo que seu trabalho se limite à assinatura de objetos prontos ou de imagens alheias.
Nesse papel, o artista sabe que precisa atrair atenção: emite opiniões sobre qualquer assunto, faz gracinhas, adota um comportamento exótico ou supostamente desafiador em relação às convenções sociais, defende o uso de drogas, protesta contra o que considera censura, freqüenta as colunas sociais etc. Um dos resultados, paradoxalmente, é o distanciamento total do público em relação à obra de arte em si: o artista passa a ter interesse como personagem, seja de publicações in, seja da revista Caras, e não pelo que produz.
Segunda hipótese: esse processo de institucionalização da arte contemporânea leva ao declínio do senso crítico e ao nivelamento com base no mercado, estreitando as brechas para qualquer tipo de contestação. Num cenário onde não existe mais um ponto fixo a partir do qual se possa analisar a obra de arte, o papel do aparato crítico e historiográfico se limita ao registro flácido e ao testemunho neutro: o próprio estabelecimento do significado de uma obra é variável, pois depende de dados externos a ela, dificultando muito a missão do crítico.
Terceira hipótese: essa aliança com o mercado e as instituições afeta todas as etapas da produção artística contemporânea. Há uma redistribuição de poderes entre o artista, o curador, o público, o galerista, o marchand. Na imprensa e na academia, a crítica, por sua vez, acuada pelas pressões desses agentes, se limita a uma descrição não comprometida de forma e conteúdo, que não coloca em questão os postulados e o contexto da criação, nem os critérios de qualificação ou desqualificação desta ou daquela tendência.

Mas, voltando a questão da institucionalização: um exemplo eloqüente é o famoso urinol de Marcel Duchamp. Concebido em 1917 como anti-arte, como uma provocação, como um objeto para não ser exposto – pois foi recusado até pela exposição em Nova York que tinha como critério não recusar nenhuma obra, exposição da qual o próprio Duchamp era um dos curadores - nem muito menos comercializado, o urinol original desapareceu pouco depois de ser fotografado popr Alfred Sieglitz. Em 1968, traindo o espírito de sua própria criação, Marcel Duchamp “produziu” e "assinou" oito réplicas do ready-made, que foram compradas por diversos museus e colecionadores – que, desta forma, enquadraram numa lógica institucional e mercadológica uma obra produzida contra esta mesma lógica.
O mesmo processo vitimou diversos objetos dadaístas, hoje comportadamente expostos, para o deleite de turistas apressados,em museus que viraram centros de entretenimento. Da mesma forma, foram esvaziados e enquadrados a politização da idéia de lugar no caso do site-specific e o caráter sublime da natureza no caso da land art, além da "especificidade de lugar" das instalações e happenings.
O resultado disso é que, ao ser exposta, a obra de arte contemporânea traz sempre uma incompletude, um componente de falsidade. Se ela foi concebida para se relacionar com algo que lhe é externo, algo passageiro e circunstancial, ao se submeter às salas conservadoreas dos museus ou às quatro paredes do “cubo branco” da galeria, a obra se mutila, torna-se apenas uma sombra ou um resíduo do original.

Neste sentido, foi notavelmente coerente a argumentação de Richard Serra no caso de sua obra Tilted Arc, instalada numa praça pública, o que gerou diversos protestos, por atrapalhar a circulação, quebrar a harmonia da paisageme tc. O governo local determinou que a obra foi retirada da praça, mas o ponto aqui não é defender ou não a permanência da obra no local – voltarei a esse assunto em outro post, pois é um episódio bem revelador das relações entre o poder público e o privado -, mas dar razão a Serra quando ele afirmou que “remover a obra é destruir a obra”.
Da mesma forma, expor o urinol de Duchamp num museu ou comercializá-lo é destruí-lo no que ele tem de relevante: é estabelecer com o urinol uma relação fetichista, negando o que ele continha de deboche, contestação e revolta, e que era sua própria razão de ser. Da mesma forma, comprar por milhões de dólares um muro grafitado por Banksy e removê-lo de seu local para uma institruição é destruir a obra de Banksy. Mas pouca gente parece se dar conta disso: só se fala nas cifras, que é o que interessa à mídia e ao mercado.
A grande pergunta é: existe alguma forma de o artista e sua obra driblarem esses mecanismos de apropriação e institucionalização?
Quarta hipótese: até o projeto moderno, uma obra de arte era autônoma em relação à sua exposição, isto é, uma pintura de Matisse ou Picasso, mesmo que jamais fosse exposta, continuaria sendo uma obra de arte. Ou seja, o local onde a obra era exposta não interferia diretamente no seu significado e no seu valor. Ora, o mesmo não se dá com a arte contemporânea, na qual o objeto artístico não pode mais existir sem sua exposição. Uma estante de vidro e metal com pílulas coloridas de Damien Hirst só se torna obra de arte quando é designada como tal pelo sistema da arte, exposta e comercializada por um preço exorbitante: antes disso será apenas uma estante de metal etc.
Assim, se antes os museus e galerias vinham a reboque da obra de arte, isso é, se a exposição era uma conseqüência ou um reconhecimento do seu valor artístico, hoje os museus e galerias determinam não apenas o valor artístico e financeiro da obra, mas sua própria existência enquanto arte. Pois não se trata mais de obras com qualidades intrínsecas, mas sim de uma obra que, ao ser designada como tal pelo sistema da arte, ganha valor com essa designação. O local e o tipo da exposição, seu curador, sua presença na mídia etc modificam a obra e lhe atribuem status, sendo que determinadas galeria e museus imprimem à obra mais valor que outros museus e galerias, e assim por diante, numa deformação mercadológica da idéia do site specific.
Ou seja, a pós-modernidade estabelece novos mecanismos valorativos e consagratórios: hoje não existe mais oposição entre obra boa e obra ruim (uma e outra podendo ou não ser expostas), mas entre obra (exposta e reconhecida pelo sistema) e não-obra (não exposta, por maiores que sejam sua qualidades intrínsecas). É o velho mecanismo de distinção (também analisado por Bourdieu) inflado ao extremo, a ponto de se tornar o centro do sistema: o valor e a própria realidade da arte são artificialmente constituídos.
Neste sentido, o contexto, que inicialmente não fazia diretamente parte da obra de arte, passou a integrá-la como parte de um projeto moderno de integração entre arte e vida e, na pós-moderndiade, passou a determinar, como contexto mercadológico, a própria existência da obra, a tal ponto que hoje, literalmente, qualquer coisa pode ser designada como arte.
O preço disso é o rompimento de um acordo tácito entre o sistema da arte e a sociedade sobre o que é ou deve ser a arte. O sistema se desliga assim da realidade e passa a operar num plano abstrato, virtual, puramente especulativo, sem qualquer lastro. A obra circula entre a instituição e o mercado, num vaivém infinito, ou melhor: a instituição é absorvida pelo mercado, na medida em que perde sua autoridade de legitimação autônoma da arte, desprendida de seu valor de troca.
No sistema da arte contemporânea, o artista e sua obra ocupam o degrau mais baixo: subordinam-se às instituições, e estas se subordinam ao mercado. Os mecanismos de validação da arte já não se distinguem dos mecanismos através dos quais o mercado opera. Do papel ativo nas utopias artísticas revolucionárias dos anos 60 e 70, que questionavam o papel do mercado e das instituições, o artista passou ao papel de escravo do sistema mercadológico, de poderes irrestritos.
Trata-se aqui de expor os mecanismos que definem e constituem as estratégias de validação doa artista e sua obra, por meio de sua circulação nas instituições públicas e privadas. Em suma, investigar qual é a agenda do sistema da arte - secreta talvez até para os artistas, que muitas vezes ignoram para quem estão trabalhando, que valores estão reforçando etc etc. A quem esta investigação pode incomodar?
Não tenho a pretensão de fazer aqui um balanço completo da produção artística contemporânea, portanto não se estranhe a ausência deste ou daquele nome, do Brasil ou do exterior. Artistas e obras só são citados na medida em que ilustram determinadas hipóteses que tenho apresentado. Tampouco pretendo atacar a arte contemporânea como um todo – o que facilitaria as coisas para quem se sentir afetado.
Minha intenção é refletir e levantar questões sobre a dinâmica de funcionamento do sistema da arte, sobre as estruturas materiais e simbólicas dentro das quais o artista produz e difunde sua obra. Aliás respeito e admiro diversos artistas, com diferentes propostas. Mas isso não muda o fato de que eles têm que lidar com processos, em curso, de comercialização e trivialização da arte, que tem sido reduzida à condição de uma mercadoria a mais no mercado global.
Da mesma forma que seria ingênuo negar a arte cotnemporânea em bloco, parece ingênuo aceitá-la acriticamente. Na ausência de debate, é o que acontece: a arte é ignorada (pela maioria das pessoas) ou aprovada de forma incondicional. O problema é que os argumentos de quem está dentro do sistema são muito frágeis. Por exemplo, alega-se
que, ao longo de toda a História da Arte, o novo foi rejeitado por não ser familiar, o que é verdade; mas inferir daí que tudo que é estranho é bom e inovador é um sofisma.
A mensagem implícita é que a arte que produzem está acima do alcance da compreensão das pessoas – arrogância reforçada pelo esoterismo dos textos acadêmicos. Contribui-se assim, conscientemente ou não, para a continuidade de um sistema que se baseia na discriminação, na exclusão de qualquer pensamento dissidente. Reforçam-se as estruturas de poder estabelecidas.
O medo do questionamento trai insegurança, é claro: no fundo os artistas contemporâneos sabem que a imensa maioria das pessoas não está convencida de que o que eles fazem é arte. Fecham-se então na sua tribo, onde se reconhecem reciprocamente e são reconhecidos pelo demais agentes do sistema. Ergue-se uma parede que impede a comunicação com a sociedade, que está preocupada com outras coisas, e que em geral entende a arte de outra maneira. A arte se exclui deliberadamente do debate intelectual. A arte se exclui deliberadamente do debate intelectual.
O fato é que, para a maioria das pessoas, a produção artística contemporânea não inspira nem emociona, não desafia, não contesta, não modifica nem derruba fronteiras, não altera a compreensão do mundo, não torna a vida culturalmente mais rica. É, em suma, uma arte inofensiva, cujo comportamento é dirigido pelo mercado (como as “tendências” da indústria da moda), e cujo sucesso é medido pela publicidade a mídia e pelas altas nas cotações. Considerações monetárias prevalecem sobre valores estéticos, aliás considerados irrelevantes pelos próprios críticos.
Conhecimento de causa, qualquer tipo de idealismo, sem falar em esperiência, técnica, seriedade e discernimento, por não serem qualidades com valor de mercado, são esvaziadas. A dedicação, o estudo, a pesquisa lenta e paciente deixaram de ser recompensadores, tanto para o artista quanto para o público.
Primeira hipótese: a arte contemporânea promoveu uma revolução conservadora, se comparada às práticas artísticas do período moderno - do começo do século 20, com as vanguardas européias, até meados dos anos 70, quando, por uma série de fatores, os valores e princípos do Modernismo perderam força e começaram a ser substituídos por um novo paradigma, pós-moderno. Conservadora não no sentido político estrito, já que diversas manifestações artísticas têm a pretensão de um conteúdo "de esquerda", mas sim por reverter processos emancipatórios que a arte moderna deflagrou.
A idéia de que a produção contemporânea é “radical” ou “revolucionária” não resiste a qualquer exame sério. Por exemplo: parece inegável que após décadas de um movimento em que a arte confrontava as instituições, nos últimos 20 ou 30 anos verificou-se uma reinstitucionalização clara da atividade artística. Mesmo aquelas práticas que por princípio eram opostas às idéias de museu, coleção e mercado – happenings, instalações, obras deliberadamente efêmeras (tanto nos conceitos quanto nos materiais) – foram apropriadas pelas instituições e pelo mercado.
(Entenda-se por “mercado” não somente o conjunto de negociações financeiras nos estabelecimentos comerciais, leilões e galerias, mas também o conjunto de espaços, institucionais e não-comerciais, como museus e centros culturais, por onde a obra de arte circula e adquire valor. Mesmo que não haja comércio propriamente dito nestes locais, processa-se aí uma troca simbólica de valores que constitui o fundamento do sistema mercantilista. Ver, a essa respeito, A economia das trocas simbólicas, de Pierre Bourdieu)
Nesse processo foram enquadradas e domesticadas práticas que vinham desde o Dadaísmo, e que eram chamadas de site-specific, incluindo a land-art, os earthworks, algumas obras radicais da arte conceituale do minimalismo etc. Todos estes movimentos ou categorias procuraram, de alguma forma, incorporar o local à obra de arte, adicionando-lhe novos significados a partir de dados externos, isto é, que que não pertenciam intrinsecamente à obra.
Outro movimento em que houve um retrocesso evidente foi o de questionamento da noção de "autor" - paralelo às teses de Roland Barthes e Michel Foucault, que demonstraram a constituição histórica da própria idéia de autoria. O pós-modernismo reverteu todas as tentativas de dissociar a criação artística de manifestação de uma individualidade iluminada: hoje o artista ocupa mais do que nunca a posição de pop star, mesmo que seu trabalho se limite à assinatura de objetos prontos ou de imagens alheias.
Nesse papel, o artista sabe que precisa atrair atenção: emite opiniões sobre qualquer assunto, faz gracinhas, adota um comportamento exótico ou supostamente desafiador em relação às convenções sociais, defende o uso de drogas, protesta contra o que considera censura, freqüenta as colunas sociais etc. Um dos resultados, paradoxalmente, é o distanciamento total do público em relação à obra de arte em si: o artista passa a ter interesse como personagem, seja de publicações in, seja da revista Caras, e não pelo que produz.
Segunda hipótese: esse processo de institucionalização da arte contemporânea leva ao declínio do senso crítico e ao nivelamento com base no mercado, estreitando as brechas para qualquer tipo de contestação. Num cenário onde não existe mais um ponto fixo a partir do qual se possa analisar a obra de arte, o papel do aparato crítico e historiográfico se limita ao registro flácido e ao testemunho neutro: o próprio estabelecimento do significado de uma obra é variável, pois depende de dados externos a ela, dificultando muito a missão do crítico.
Terceira hipótese: essa aliança com o mercado e as instituições afeta todas as etapas da produção artística contemporânea. Há uma redistribuição de poderes entre o artista, o curador, o público, o galerista, o marchand. Na imprensa e na academia, a crítica, por sua vez, acuada pelas pressões desses agentes, se limita a uma descrição não comprometida de forma e conteúdo, que não coloca em questão os postulados e o contexto da criação, nem os critérios de qualificação ou desqualificação desta ou daquela tendência.

Mas, voltando a questão da institucionalização: um exemplo eloqüente é o famoso urinol de Marcel Duchamp. Concebido em 1917 como anti-arte, como uma provocação, como um objeto para não ser exposto – pois foi recusado até pela exposição em Nova York que tinha como critério não recusar nenhuma obra, exposição da qual o próprio Duchamp era um dos curadores - nem muito menos comercializado, o urinol original desapareceu pouco depois de ser fotografado popr Alfred Sieglitz. Em 1968, traindo o espírito de sua própria criação, Marcel Duchamp “produziu” e "assinou" oito réplicas do ready-made, que foram compradas por diversos museus e colecionadores – que, desta forma, enquadraram numa lógica institucional e mercadológica uma obra produzida contra esta mesma lógica.
O mesmo processo vitimou diversos objetos dadaístas, hoje comportadamente expostos, para o deleite de turistas apressados,em museus que viraram centros de entretenimento. Da mesma forma, foram esvaziados e enquadrados a politização da idéia de lugar no caso do site-specific e o caráter sublime da natureza no caso da land art, além da "especificidade de lugar" das instalações e happenings.
O resultado disso é que, ao ser exposta, a obra de arte contemporânea traz sempre uma incompletude, um componente de falsidade. Se ela foi concebida para se relacionar com algo que lhe é externo, algo passageiro e circunstancial, ao se submeter às salas conservadoreas dos museus ou às quatro paredes do “cubo branco” da galeria, a obra se mutila, torna-se apenas uma sombra ou um resíduo do original.

Neste sentido, foi notavelmente coerente a argumentação de Richard Serra no caso de sua obra Tilted Arc, instalada numa praça pública, o que gerou diversos protestos, por atrapalhar a circulação, quebrar a harmonia da paisageme tc. O governo local determinou que a obra foi retirada da praça, mas o ponto aqui não é defender ou não a permanência da obra no local – voltarei a esse assunto em outro post, pois é um episódio bem revelador das relações entre o poder público e o privado -, mas dar razão a Serra quando ele afirmou que “remover a obra é destruir a obra”.
Da mesma forma, expor o urinol de Duchamp num museu ou comercializá-lo é destruí-lo no que ele tem de relevante: é estabelecer com o urinol uma relação fetichista, negando o que ele continha de deboche, contestação e revolta, e que era sua própria razão de ser. Da mesma forma, comprar por milhões de dólares um muro grafitado por Banksy e removê-lo de seu local para uma institruição é destruir a obra de Banksy. Mas pouca gente parece se dar conta disso: só se fala nas cifras, que é o que interessa à mídia e ao mercado.
A grande pergunta é: existe alguma forma de o artista e sua obra driblarem esses mecanismos de apropriação e institucionalização?
Quarta hipótese: até o projeto moderno, uma obra de arte era autônoma em relação à sua exposição, isto é, uma pintura de Matisse ou Picasso, mesmo que jamais fosse exposta, continuaria sendo uma obra de arte. Ou seja, o local onde a obra era exposta não interferia diretamente no seu significado e no seu valor. Ora, o mesmo não se dá com a arte contemporânea, na qual o objeto artístico não pode mais existir sem sua exposição. Uma estante de vidro e metal com pílulas coloridas de Damien Hirst só se torna obra de arte quando é designada como tal pelo sistema da arte, exposta e comercializada por um preço exorbitante: antes disso será apenas uma estante de metal etc.
Assim, se antes os museus e galerias vinham a reboque da obra de arte, isso é, se a exposição era uma conseqüência ou um reconhecimento do seu valor artístico, hoje os museus e galerias determinam não apenas o valor artístico e financeiro da obra, mas sua própria existência enquanto arte. Pois não se trata mais de obras com qualidades intrínsecas, mas sim de uma obra que, ao ser designada como tal pelo sistema da arte, ganha valor com essa designação. O local e o tipo da exposição, seu curador, sua presença na mídia etc modificam a obra e lhe atribuem status, sendo que determinadas galeria e museus imprimem à obra mais valor que outros museus e galerias, e assim por diante, numa deformação mercadológica da idéia do site specific.
Ou seja, a pós-modernidade estabelece novos mecanismos valorativos e consagratórios: hoje não existe mais oposição entre obra boa e obra ruim (uma e outra podendo ou não ser expostas), mas entre obra (exposta e reconhecida pelo sistema) e não-obra (não exposta, por maiores que sejam sua qualidades intrínsecas). É o velho mecanismo de distinção (também analisado por Bourdieu) inflado ao extremo, a ponto de se tornar o centro do sistema: o valor e a própria realidade da arte são artificialmente constituídos.
Neste sentido, o contexto, que inicialmente não fazia diretamente parte da obra de arte, passou a integrá-la como parte de um projeto moderno de integração entre arte e vida e, na pós-moderndiade, passou a determinar, como contexto mercadológico, a própria existência da obra, a tal ponto que hoje, literalmente, qualquer coisa pode ser designada como arte.
O preço disso é o rompimento de um acordo tácito entre o sistema da arte e a sociedade sobre o que é ou deve ser a arte. O sistema se desliga assim da realidade e passa a operar num plano abstrato, virtual, puramente especulativo, sem qualquer lastro. A obra circula entre a instituição e o mercado, num vaivém infinito, ou melhor: a instituição é absorvida pelo mercado, na medida em que perde sua autoridade de legitimação autônoma da arte, desprendida de seu valor de troca.
No sistema da arte contemporânea, o artista e sua obra ocupam o degrau mais baixo: subordinam-se às instituições, e estas se subordinam ao mercado. Os mecanismos de validação da arte já não se distinguem dos mecanismos através dos quais o mercado opera. Do papel ativo nas utopias artísticas revolucionárias dos anos 60 e 70, que questionavam o papel do mercado e das instituições, o artista passou ao papel de escravo do sistema mercadológico, de poderes irrestritos.
Trata-se aqui de expor os mecanismos que definem e constituem as estratégias de validação doa artista e sua obra, por meio de sua circulação nas instituições públicas e privadas. Em suma, investigar qual é a agenda do sistema da arte - secreta talvez até para os artistas, que muitas vezes ignoram para quem estão trabalhando, que valores estão reforçando etc etc. A quem esta investigação pode incomodar?
Não tenho a pretensão de fazer aqui um balanço completo da produção artística contemporânea, portanto não se estranhe a ausência deste ou daquele nome, do Brasil ou do exterior. Artistas e obras só são citados na medida em que ilustram determinadas hipóteses que tenho apresentado. Tampouco pretendo atacar a arte contemporânea como um todo – o que facilitaria as coisas para quem se sentir afetado.
Minha intenção é refletir e levantar questões sobre a dinâmica de funcionamento do sistema da arte, sobre as estruturas materiais e simbólicas dentro das quais o artista produz e difunde sua obra. Aliás respeito e admiro diversos artistas, com diferentes propostas. Mas isso não muda o fato de que eles têm que lidar com processos, em curso, de comercialização e trivialização da arte, que tem sido reduzida à condição de uma mercadoria a mais no mercado global.
Da mesma forma que seria ingênuo negar a arte cotnemporânea em bloco, parece ingênuo aceitá-la acriticamente. Na ausência de debate, é o que acontece: a arte é ignorada (pela maioria das pessoas) ou aprovada de forma incondicional. O problema é que os argumentos de quem está dentro do sistema são muito frágeis. Por exemplo, alega-se
que, ao longo de toda a História da Arte, o novo foi rejeitado por não ser familiar, o que é verdade; mas inferir daí que tudo que é estranho é bom e inovador é um sofisma.
A mensagem implícita é que a arte que produzem está acima do alcance da compreensão das pessoas – arrogância reforçada pelo esoterismo dos textos acadêmicos. Contribui-se assim, conscientemente ou não, para a continuidade de um sistema que se baseia na discriminação, na exclusão de qualquer pensamento dissidente. Reforçam-se as estruturas de poder estabelecidas.
O medo do questionamento trai insegurança, é claro: no fundo os artistas contemporâneos sabem que a imensa maioria das pessoas não está convencida de que o que eles fazem é arte. Fecham-se então na sua tribo, onde se reconhecem reciprocamente e são reconhecidos pelo demais agentes do sistema. Ergue-se uma parede que impede a comunicação com a sociedade, que está preocupada com outras coisas, e que em geral entende a arte de outra maneira. A arte se exclui deliberadamente do debate intelectual. A arte se exclui deliberadamente do debate intelectual.
O fato é que, para a maioria das pessoas, a produção artística contemporânea não inspira nem emociona, não desafia, não contesta, não modifica nem derruba fronteiras, não altera a compreensão do mundo, não torna a vida culturalmente mais rica. É, em suma, uma arte inofensiva, cujo comportamento é dirigido pelo mercado (como as “tendências” da indústria da moda), e cujo sucesso é medido pela publicidade a mídia e pelas altas nas cotações. Considerações monetárias prevalecem sobre valores estéticos, aliás considerados irrelevantes pelos próprios críticos.
Conhecimento de causa, qualquer tipo de idealismo, sem falar em esperiência, técnica, seriedade e discernimento, por não serem qualidades com valor de mercado, são esvaziadas. A dedicação, o estudo, a pesquisa lenta e paciente deixaram de ser recompensadores, tanto para o artista quanto para o público.
Saturday, January 26, 2008
Palavra dos leitores
A grande maioria dos comentários sobre os meus textos chega por e-mail, e não diretamente no blog. Reproduzo a seguir alguns dos mais recentes:
___
Excelente artigo, Luciano.
Faltou você comentar a ironia de Umberto Eco ao lembrar que escritores produzem textos para catálogos para se verem associados ao sucesso de grandes artistas.Por outro lado vou mais além no falar mal dos curadores. Estão sempre girando em torno de artistas que já têm sucesso garantido.
Obrigada por me enviar o texto.
Ana Mae [pioneira em arte-educação no Brasil, com reputação internacional: foi diretora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP) e presidente do International Society of Education through Art (InSea). É professora visitante da The Ohio State University, nos EUA.].
___
parabéns .gosto de sua opinião,pronto ganhou um leitor simpatizanta
abraços.
ivald granato [artista plástico]
www.ivaldgranato.com.br
___
Olá Luciano,
Tenho sempre acompanhado seu blog Máquina de escrever, parabéns pela qualidade dos textos e da crítica bem fundamentada. Sou estudante de design gráfico na UFRJ e faço parte de grupo de pesquisa fotopoética. Este grupo pesquisa a relação da fotografia (como potencial criador) na produção de artistas contemporâneos. Estou pesquisando sobre o pintor alemão Gerhard Richter, você o conhece? Gostaria muito de ler uma crítica sua sobre este artista.
Seguem em anexo dois trabalhos dele. Ele fez uma série de fotos em Viena e depois pintou sobre as fotografias. Ele tem trabalhos bem distintos um dos outros.
Abraços e continue com o exelente trabalho.
Rafael Nobre
http://www.rafaelnobre.com


___
Excelente artigo, Luciano.
Faltou você comentar a ironia de Umberto Eco ao lembrar que escritores produzem textos para catálogos para se verem associados ao sucesso de grandes artistas.Por outro lado vou mais além no falar mal dos curadores. Estão sempre girando em torno de artistas que já têm sucesso garantido.
Obrigada por me enviar o texto.
Ana Mae [pioneira em arte-educação no Brasil, com reputação internacional: foi diretora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP) e presidente do International Society of Education through Art (InSea). É professora visitante da The Ohio State University, nos EUA.].
___
parabéns .gosto de sua opinião,pronto ganhou um leitor simpatizanta
abraços.
ivald granato [artista plástico]
www.ivaldgranato.com.br
___
Olá Luciano,
Tenho sempre acompanhado seu blog Máquina de escrever, parabéns pela qualidade dos textos e da crítica bem fundamentada. Sou estudante de design gráfico na UFRJ e faço parte de grupo de pesquisa fotopoética. Este grupo pesquisa a relação da fotografia (como potencial criador) na produção de artistas contemporâneos. Estou pesquisando sobre o pintor alemão Gerhard Richter, você o conhece? Gostaria muito de ler uma crítica sua sobre este artista.
Seguem em anexo dois trabalhos dele. Ele fez uma série de fotos em Viena e depois pintou sobre as fotografias. Ele tem trabalhos bem distintos um dos outros.
Abraços e continue com o exelente trabalho.
Rafael Nobre
http://www.rafaelnobre.com


A arte morreu mas continua viva
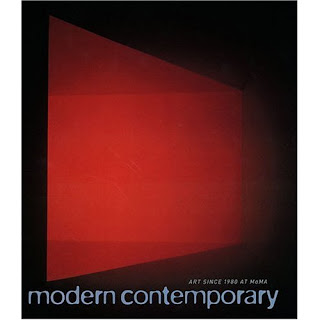
Passei algumas horas me entretendo com o livro Modern Contemporary: Art at Moma Since 1980, uma espécie de catálogo reunindo 550 obras de arte contemporânea incorporadas ao acervo do Moma entre 1980 e 2002, incluindo Matthew Barney, Gabriel Orozco, Chris Ofili, Rineke Dijkstra, Philippe Starck; Jenny Holzer, Robert Gober, Teiji Furuhashi, Bruce Nauman etc etc. Como seria de se esperar, chama a atenção a variedade de conceitos, suportes e materiais que é uma das marcas registradas do pluralismo pós-moderno. O que talvez não fosse de se esperar é que boa parte dessas obras já comece a parecer estranhamente datada.
A minha teoria é que a pós-modernidade está exausta. O projeto moderno trazia, em cada uma de suas vertentes, uma promessa de felicidade. Hoje o sistema da arte está esmagado entre a especulação e o entretenimento mediático. Deixou de lado quanquer compromisso com a sociedade (ou com a contestação da sociedade) para se tornar uma entidade mutante e híbrida, guiada pelas forças do mercado - que se tornou o pensamento único, a última grande narrativa. Aparentemente se encontra em constante transformação, mas no fundo está imobilizado. Tirando o dinheiro, é um sistema esquálido e impotente.
Houve um momento em que a superação do projeto moderno parecia conter um potencial de emancipação, no sentido de propor uma superação do etnocentrismo, do imperialismo, do machismo, da confiança ilimitada na tecnologia que caracterizavam a modernidade. Esse potencial não se realizou: em seu lugar, veio a redução de todos os valores ao valor de mercado, a redução do estético ao econômico e ao mediático.
O pluralismo e a diversidade aparentes mascaram a uniformidade profunda na alienação, no cinismo, na descrença em relação ao próprio poder da arte e ao status que ela deve ter na estrutura simbólica da sociedade. Mascaram, sobretudo, o endosso ao modelo neoliberal globalizado de sociedade, no qual os artistas se inserem alegremente - tanto mais alegremente quanto mais rebelde for sua atitude. No fundo a postura desses artistas é arqui-conservadora, centrada na produção de uma obra que é mercadejada com o fim de chegar a um museu ou uma galeria.
Desconfio, aliás, que a ausência total de qualquer reflexão séria sobre esses temas hoje sinaliza a perda de importância da arte para as pessoas. É bem provável que um cidadão comum, de cultura mediana, ignora até mesmo que existe uma diferença entre a arte moderna e contemporânea: ele continua associando a arte à capacidade de exprimir e significar, dois verbos que caíram em desuso.
O fim da arte como projeto transformador reforça os mecanismos de pré-fabricação da consciência individual e da organização total das formas de vida como um grande espetáculo. O sistema quantifica, pré-determina e insere na dinâmica do consumo todos os aspectos da existência: vida amorosa, família, trabalho etc. A submissão da arte à lógica da cultura de massa (e ao controle econômico e acadêmico) representa sua homogeneização, sua institucionalização e sua burocratização. E isso cansa.
Nese sentido, a arte contemporânea é uma ilustração de um fenômeno maior. Preste atenção em qualquer conversa: em 99% dos casos é uma repetição. Tudo que as pessoas dizem já foi dito por outras pessoas, em situações parecidas. É como se os roteiros já estivessem todos aí: qualquer momento da vida é apenas a encenação de uma narrativa já escrita. Na vida como na arte, o novo só nasce da consciência crítica e da disposição real para a mudança.
Mas o mundo é cada vez mais refratário a esta consciência e a esta disposição. Tudo nos empurra à aceitação de que a História acabou, de que o futuro morreu, e isto leva o artista a se dissociar de qualquer sentido de tempo e espaço, de qualquer diálogo com a tradição e de qualquer utopia fundada numa perspectia histórica: resta apenas a citação irônica, a reciclagem de linguagens passadas, o comentário inofensivo e domesticado, a aceitação cínica das coisas como elas são, num contexto de relativismo multiculturalista.
Nesse contexto de enquadramento total, com base em que critérios se pode criticar o populismo estético de um Romero Brito, por exemplo? Vejamos:
- atacar a facilidade e a superficialidade de seus quadros fica difícil diante das obras dos artistas mais valorizados do mercado internacional, como Jeff Koons e Damien Hirst.
- atacá-lo como superado e cafona fica difícil quando muitas obras contemporâneas são deliberadamente superadas e cafonas, sobretudo quando se recupera a pintura.
- atacá-lo pela pouca técnica seria um contrasenso, quando os artistas de maior sucesso sequer encostam a mão nas suas obras.
- atacá-lo pela repetição, idem, já que a reiteração das próprias obras é uma característica dos principais artistas de hoje - mais que isso, é um requisito do mercado.
- atacá-lo por se associar a projetos da revista Caras fica difícil quando artistas top assinam rótulos de vodka ou bolsas de griffe.
Talvez o que mais incomode em Romero Brito seja o fato de, sendo um artista "ruim", ele faça sucesso comercial, estabeleça comunicação com o público e tenha um circuito internaconal, o que de certo modo põe a nu a fragilidade do sistema da arte como um todo.
Além do mais, se deixou de haver um "centro" com autoridade para determinar qualquer hierarquia entre as manifestações artísticas, com cada nicho tendo o direito politicamente correto a reivindicar o mesmo grau de reconhecimento - arte gay, arte feminina, arte das ruas, arte étnica etc - como justificar a desqualificação de Romero Brito ou qualquer outro artista reconhecido pelo mercado? Não venham falar em "bom gosto", pois essa categoria já caducou há muito tempo.
Voltando ao catálogo do Moma: após atravessar suas 590 páginas, o que ficou? Na melhor das hipóteses, a impressão de obras intelectualmente intrigantes. Em contrapartida, ao folhear pela centésima vez um catálogo de Picasso ou Giacometti, vêm a tona o mesmo deslumbramento, a mesma alegria ou melancolia, as mesmas sensações que caracterizavam, antigamente, o que se chamava de experiência estética. Ou seja, são obras permanentes, que não ficam datadas. De muito pouco da produção artística contemporânea se pode dizer isso. Simples assim.
Não se trata de passadismo: a História não anda para trás, é claro. A morte da arte tal como era entendida na época de Picasso e Giacometti pode ser um fato incontornável, diante do qual não adianta chorar (da mesma forma que não adianta chorar diante da morte das vanguardas do começo do século passado; ou da mesma forma que, saindo da esfera das artes plásticas, não adianta chorar diante do fim de um cinema de autor tal como era feito por Godard e Antonioni, ou do fim da cultura de esuqreda ligada à utopia comunista).
Mas quando a arte pára de andar para frente e começa a patinar num presente feito de apropriação e reciclagem, sem qualquer reflexão ou desdobramento (o que vem acontecendo nos últimos 20 anos), alguma coisa está errada. Com o fim do Modernismo, uma idéia de arte morreu (como já tinham morrido antes muitas outras), mas a arte precisa se renovar para continuar viva. Precisa resgatar seu caráter de dimensão na qual o homem pode re-significar sua vida, colocar o mundo em questão, libertar e exprimir forças reprimidas. A não ser que se conforme em passar a viver a base de "tendências", como a moda.
Friday, January 25, 2008
Mais um talento inglês
 Do site da BBC:
Do site da BBC:_____
Artista reproduz fetos em esculturas gigantes
O artista plástico britânico Marc Quinn inaugura nesta sexta-feira a exposição Evolution, com nove esculturas que representam a evolução do feto durante a gestação. Esculpidas em mármore cor-de-rosa, as obras têm cerca de 3 metros de altura e são biologicamente precisas, pois foram desenvolvidas a partir de radiografias e fotografias.
Segundo o artista, que levou dois anos e meio para realizar o projeto, as obras são uma "celebração das origens da vida". "Evolution traz a mágica da natureza e celebra o surgimento da vida a partir da matéria", afirma a porta-voz da galeria White Cube, que hospeda a exposição até 23 de fevereiro.

Marc Quinn se tornou conhecido em 1997, quando apresentou a obra Self durante uma exposição na Saatchi Gallery, uma das galerias de arte mais famosas de Londres. A obra era a reprodução da cabeça do artista esculpida com 4,5 litros de seu próprio sangue congelado, que permanecia ligada a um sistema de refrigeração. O artista levou cinco meses para retirar a quantidade de sangue necessária para produzir a obra. Self foi vendida em 2005 para um colecionador norte-americano por 1,5 milhões de libras (R$5,3 milhões).

Além desta, outra obra que marcou a carreira de Quinn foi a estátua Alison Lapper Pregnant, uma escultura da imagem da artista plástica Alison Lapper, que nasceu sem os braços e com pernas curtas, grávida de oito meses. A obra ocupou o quarto plinto da Trafalgar Square, uma das praças mais famosas do centro de Londres, durante dois anos, e foi retirada no final do ano passado.
Thursday, January 24, 2008
A curadoria como obra de arte
"Si hay vanguardia significa tener un amigo en el Ministerio de Cultura, estar apoyado por un crítico corrupto de la Prensa, tener el sostén de una galería multinacional y ser capaz de esgrimir públicamente imbecilidades sin la menor vergüenza"
Eduardo Subirats
Como um agente do sistema da arte, conscientemente ou não o artista bem-sucedido está empenhado na reprodução deste sistema: sintomaticamente, cada vez mais artistas acumulam as funções de curadores, galeristas e críticos, criando um novo “discurso” nestas atividades. Veja-se por exemplo, no site www.e-flux.com, o projeto The Next Documenta should be curated by an artist, no qual 29 artistas, incluindo três brasileiros, opinam sobre o assunto. Jens Hoffmann, idealizador do projeto, organizou outro parecido, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, A exposição como trabalho de arte, sugerindo que uma exposição pode ser um trabalho de arte por si só, “sem qualquer trabalho de arte”. Paulo Herkenhoff, Adriano Pedrosa, Ivo Mesquita e Iran do Espírito Santo demonstraram sensatez, defendendo a posição de que “artista faz arte, e curador curadoria”.
Mas por si só a existência dessa discussão aponta para novas relações de poder no sistema da arte, que o tornam ainda mais fechado em si mesmo e auto-referente, à medida que os papéis se confundem. Primeiro se esvazia a função do crítico, depois a do público, depois a do curador, eliminando-se o necessário atrito entre diferentes pontos de vista que servia de crivo na reflexão sobre uma exposição. Mais do que abrir caminho para ações entre amigos que excluam elementos estranhos às panelas, já que artistas-curadores passam a convidar e referendar outros artistas-curadores, este movimento reforça a auto-suficiência do sistema e sua dissociação da vida real - caminho oposto ao da fusão entre vida e arte proposto nos anos 60 e 70. O passo seguinte será perguntar se o mecenato pode ser em si uma obra de arte, mesmo sem arte, ou se os leilões podem ser em si obras de arte, mesmo sem arte, o que facilitaria ainda mais as coisas. O sistema da arte não precisaria mais convencer (ou enganar) ninguém.
Novos papéis correspondem a novas práticas.
Eduardo Subirats
Como um agente do sistema da arte, conscientemente ou não o artista bem-sucedido está empenhado na reprodução deste sistema: sintomaticamente, cada vez mais artistas acumulam as funções de curadores, galeristas e críticos, criando um novo “discurso” nestas atividades. Veja-se por exemplo, no site www.e-flux.com, o projeto The Next Documenta should be curated by an artist, no qual 29 artistas, incluindo três brasileiros, opinam sobre o assunto. Jens Hoffmann, idealizador do projeto, organizou outro parecido, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, A exposição como trabalho de arte, sugerindo que uma exposição pode ser um trabalho de arte por si só, “sem qualquer trabalho de arte”. Paulo Herkenhoff, Adriano Pedrosa, Ivo Mesquita e Iran do Espírito Santo demonstraram sensatez, defendendo a posição de que “artista faz arte, e curador curadoria”.
Mas por si só a existência dessa discussão aponta para novas relações de poder no sistema da arte, que o tornam ainda mais fechado em si mesmo e auto-referente, à medida que os papéis se confundem. Primeiro se esvazia a função do crítico, depois a do público, depois a do curador, eliminando-se o necessário atrito entre diferentes pontos de vista que servia de crivo na reflexão sobre uma exposição. Mais do que abrir caminho para ações entre amigos que excluam elementos estranhos às panelas, já que artistas-curadores passam a convidar e referendar outros artistas-curadores, este movimento reforça a auto-suficiência do sistema e sua dissociação da vida real - caminho oposto ao da fusão entre vida e arte proposto nos anos 60 e 70. O passo seguinte será perguntar se o mecenato pode ser em si uma obra de arte, mesmo sem arte, ou se os leilões podem ser em si obras de arte, mesmo sem arte, o que facilitaria ainda mais as coisas. O sistema da arte não precisaria mais convencer (ou enganar) ninguém.
Novos papéis correspondem a novas práticas.
Notícias sobre a Bienal
Outra mensagem, esta de Argênide, com comentários meus entre colchetes:
___
Luciano,
Esse post [O mercado como critério estético] me fez lembrar um programa que a GNT passou há uns 15 dias – “Iconoclastas – com o Jeff Koons. Mostraram a “fábrica” dele, provavelmente no estilo Damien Hirst que você fala. Vários artistas procurando tons de verde, enquanto ele apenas administrava. O designer que o entrevistava perguntou como se define o que é uma obra de arte, se ela pode sair da indústria já pronta, se é a assinatura do artista, ou o que? Ele respondeu que o público é quem determina o que é uma obra de arte!!!! Ao final o designer disse francamente que não conseguiu, após a entrevista, saber se o artista leva a sério o que faz ou se é tudo uma grande piada! [Eu acho que é tudo uma grande piada, mas como rende milhões, as pessoas fingem que levam a sério]
Mudando de assunto, ontem no Mube houve uma mesa redonda sobre a Bienal. Foi muito boa a discussão, principalmente porque o Ivo Mesquita corajosamente compareceu e pode esclarecer alguns pontos, como o fato de que o “Vazio” não é tema e sim estratégia. Ao ser perguntado pelo curador Olívio Tavares de Araújo se haveria tempo e dinheiro para se fazer uma Bienal como sempre foi feita ele disse que sim, o problema não foi tempo ou dinheiro, como se pensava. Foi escolha mesmo! [Isto soa a uma tentativa mentirosa de esconder "conceitualmente", o fracasso da Bienal. Mas será pior ainda se for verdade: como alguém pode ter o poder de destruir deliberadamente um evento da importância da Bienal? Cadê o Ministério Público? Cadê a imprensa que não se manifesta?]
O artista Antonio Henrique Amaral foi quem fez a colocação mais básica e importante: “O evento tem que acontecer e o evento são as obras”. Disse também que “o espetáculo é quem fala e não a Bienal ou o curador. Eles apenas possibilitam e preparam o espaço para que as opiniões aconteçam. Não cabe à Bienal ou ao curador dar uma opinião, eles são meros realizadores de um evento”! Ivo Mesquita afirmara no início que terão artistas na Bienal sim, mas em tom quase debochado disse que ”quadro pendurado na parede, não!” [Ou seja, se aparecesse um novo Renoir, um novo Van Gogh ou mesmo um novo Pollock que levasse seus quadros à Bienal, seria recebido com escárnio. Só Freud explica esse ódio do quadro na parede]
Mais à frente, pressionado, acabou afirmando que serão cerca de 40 artistas. A primeira pergunta da platéia sobre qual o orçamento de que ele dispõe para essa Bienal, recebeu muitos aplausos e à resposta de que são 10 milhões de reais, o auditório ficou indignado pois uma simples conta aritmética revela que são 250 mil por artista!!!!! Ivald Granato da mesa, disse na mesma hora que queria participar dessa Bienal. Um pouco antes Olívio Tavares de Araújo afirmara que com 5 milhões ele realizaria uma.
Isso foi apenas o começo, a discussão estava bem acalorada, os artistas bastante interessados. A Bienal tem um histórico a se respeitar, porém Ivo Mesquita disse que ter 150 artistas na Bienal significaria apenas reunir 150 artistas e que isso não levaria a nada, não melhoraria nada, então ele quer um questionamento sobre a arte e sobre a Bienal. Eu pergunto: e porque isso tem que ser durante a Bienal? Será que a arte está tão conceitual que até a Bienal agora é conceitual?
Abraço,
Argênide
___
Luciano,
Esse post [O mercado como critério estético] me fez lembrar um programa que a GNT passou há uns 15 dias – “Iconoclastas – com o Jeff Koons. Mostraram a “fábrica” dele, provavelmente no estilo Damien Hirst que você fala. Vários artistas procurando tons de verde, enquanto ele apenas administrava. O designer que o entrevistava perguntou como se define o que é uma obra de arte, se ela pode sair da indústria já pronta, se é a assinatura do artista, ou o que? Ele respondeu que o público é quem determina o que é uma obra de arte!!!! Ao final o designer disse francamente que não conseguiu, após a entrevista, saber se o artista leva a sério o que faz ou se é tudo uma grande piada! [Eu acho que é tudo uma grande piada, mas como rende milhões, as pessoas fingem que levam a sério]
Mudando de assunto, ontem no Mube houve uma mesa redonda sobre a Bienal. Foi muito boa a discussão, principalmente porque o Ivo Mesquita corajosamente compareceu e pode esclarecer alguns pontos, como o fato de que o “Vazio” não é tema e sim estratégia. Ao ser perguntado pelo curador Olívio Tavares de Araújo se haveria tempo e dinheiro para se fazer uma Bienal como sempre foi feita ele disse que sim, o problema não foi tempo ou dinheiro, como se pensava. Foi escolha mesmo! [Isto soa a uma tentativa mentirosa de esconder "conceitualmente", o fracasso da Bienal. Mas será pior ainda se for verdade: como alguém pode ter o poder de destruir deliberadamente um evento da importância da Bienal? Cadê o Ministério Público? Cadê a imprensa que não se manifesta?]
O artista Antonio Henrique Amaral foi quem fez a colocação mais básica e importante: “O evento tem que acontecer e o evento são as obras”. Disse também que “o espetáculo é quem fala e não a Bienal ou o curador. Eles apenas possibilitam e preparam o espaço para que as opiniões aconteçam. Não cabe à Bienal ou ao curador dar uma opinião, eles são meros realizadores de um evento”! Ivo Mesquita afirmara no início que terão artistas na Bienal sim, mas em tom quase debochado disse que ”quadro pendurado na parede, não!” [Ou seja, se aparecesse um novo Renoir, um novo Van Gogh ou mesmo um novo Pollock que levasse seus quadros à Bienal, seria recebido com escárnio. Só Freud explica esse ódio do quadro na parede]
Mais à frente, pressionado, acabou afirmando que serão cerca de 40 artistas. A primeira pergunta da platéia sobre qual o orçamento de que ele dispõe para essa Bienal, recebeu muitos aplausos e à resposta de que são 10 milhões de reais, o auditório ficou indignado pois uma simples conta aritmética revela que são 250 mil por artista!!!!! Ivald Granato da mesa, disse na mesma hora que queria participar dessa Bienal. Um pouco antes Olívio Tavares de Araújo afirmara que com 5 milhões ele realizaria uma.
Isso foi apenas o começo, a discussão estava bem acalorada, os artistas bastante interessados. A Bienal tem um histórico a se respeitar, porém Ivo Mesquita disse que ter 150 artistas na Bienal significaria apenas reunir 150 artistas e que isso não levaria a nada, não melhoraria nada, então ele quer um questionamento sobre a arte e sobre a Bienal. Eu pergunto: e porque isso tem que ser durante a Bienal? Será que a arte está tão conceitual que até a Bienal agora é conceitual?
Abraço,
Argênide
Wednesday, January 23, 2008
Mensagem de Bonfanti
 Recebi esta mensagem do artista plástico e professor Gianguido Bonfanti e compartilho com vocês. (Na ilustração, uma tela sua)
Recebi esta mensagem do artista plástico e professor Gianguido Bonfanti e compartilho com vocês. (Na ilustração, uma tela sua)______
Caro Luciano,
Tenho acompanhado seu trabalho crítico com entusiasmo. É sempre uma alegria quando mais uma voz lúcida e capaz de sustentar sua argumentação de maneira densa se soma ao crescente número de pessoas preocupadas com a perda de qualidade da "arte" que é apresentada ao público através das curadorias em instituições e suas subseqüentes ou antecedentes conexões com as galerias.
Tenho a sensação de que esse panorama desolador começa a demonstrar sinais de esgotamento, tanto da parte do público, quanto de parte do mercado de arte. Além do que me toca pessoalmente, as conseqüências nas gerações em formação são desastrosas. Na minha atividade didática tenho lutado sem trégua para estabelecer valores éticos no processo de criação, tão destruído por alguns desvios provocados na modernidade pelas estratégias de ataque à burguesia e, ainda pior, na manutenção dessas mesmas estruturas de poder na pós-modernidade que assumiram um aspecto perverso em suas alianças com o mercado consumista. Antes da queda do muro de Berlim, ao menos, havia pudor por parte da "vanguarda" de se aliar ao mercado, pois esvaziaria a resistência e crítica ao sistema dominante, questões totalmente abandonadas.
Bem, até breve.
Saudações culturais.
Gianguido
Esta obra vale 19,1 milhões de dólares
 Damien Hirst, Lullaby Spring (2002)
Damien Hirst, Lullaby Spring (2002)Vitrine de aço e vidro e pílulas pintadas
182,9 x 274,3 x 10,2 cm
A obra acima, de Damien Hirst, integra a série conceitual "As Quatro Estações" e é composta por uma estante de aço inoxidável e vidro, com 6.136 pílulas de diversas cores, que aludem às estações do ano. É a mais cara obra de um artista vivo do mundo: foi comprada por 19,1 milhões e dólares em 2007.
Esta obra vale 19,1 milhões de dólares
Esta obra vale 19,1 milhões de dólares
Esta obra vale 19,1 milhões de dólares
Esta obra vale 19,1 milhões de dólares
Esta obra vale 19,1 milhões de dólares
Esta obra vale 19,1 milhões de dólares
Esta obra vale 19,1 milhões de dólares
Esta obra vale 19,1 milhões de dólares
Esta obra vale 19,1 milhões de dólares
Esta obra vale 19,1 milhões de dólares
Mais informações reveladoras sobre Damien Hirst:
- Para atender a demanda do mercado por obras suas, Hirst administra uma equipe de mais de cem assistentes, entre operários, artesãos, químicos, taxidermistas, biólogos e engenheiros. Ele raramente coloca as mãos na massa, apena supervisiona tudo à distância. Na melhor tradução conceitual, Hirst garante que "o importante é a idéia, não a sua execução".
- Sobre as telas que assina, Hirst já declarou que são pintadas por assistentes: "Não estou a fim de me preocupar com isso. A pessoa que melhor tem pintado para mim é Rachel. Ela é brilhante, o melhor quadro meu que você pode ter é um quadro pintado por Rachel". Quando outra assistente resolveu deixar o emprego, pediu a Hirst uma tela sua como lembrança, e ele sugeriu que ela própria a pintasse: "A única diferença entre uma tela pintada por ela e uma minha é o preço", afirmou.
Ou seja, do artista não se espera mais que crie, apenas que assine. A criação, que exige talento e prática, é hoje menos importante que a adequação a uma demanda que ratifique a legitimidade do sistema, que em contrapartida legitimará o artista e sua obra – designando-os como artista e obra, justamente. Da mesma forma que a assinatura do artista consagrado transfere valor à sua obra (é arte aquilo que o artista diz que é arte), o sistema transfere valor ao artista, atestando sua inclusão como membro de um grupo (é artista aquele que o sistema aponta como artista). Nos dois casos, os gestos decisivos são de designação, quase de indexação.
Mas a quem, fora as partes interessadas, Damien Hirst convence ou engana? É essa iconoclastia de fachada que o sistema da arte valoriza? Em nome de que valores é possível justificar ou mesmo entender as informações acima?
Eu mesmo respondo: em nome do dinheiro. A importância da arte de Damien Hirst está no fato de que ela cria dinheiro, e somente nisso. Sem dinheiro, acabou o seu valor, porque é o dinheiro que lhe confere valor artístico. O dinheiro ocupou o vazio existencial deixado pela arte contemporânea, desprovida de qualquer sentido espiritual. Isso reflete tristemente a realidade de que, na sociedade em que vivemos, o dinheiro tem um significado existencial mais importante do que a arte.
Na minha opinião, o que vem acontecendo na arte contemporânea é uma revolução conservadora. Os detentores oficiais do discurso sobre arte - artistas, galeristas, curadores, diretores de museus e o que resta da crítica - diabolizam de forma quase terrorista qualquer tentativa de reflexão independente, esta sim, suprema ironia, tachada de direitista e reacionária. No poder, eles só aceitam uma atitude: a da adesão incondicional ao que é decretado como arte.
Tuesday, January 22, 2008
O mercado como critério estético

A crise da arte contemporânea reflete a crise da cultura como um todo, que por sua vez é a conseqüência direta da redução de todas as esferas da existência ao seu aspecto econômico. Na iminência de uma crise econômica em escala planetária, essa interdependência se faz notar de forma mais clara, sobretudo numa cultura em processo de privatização acentuada. O dinheiro desaparece, a indústria cultural entra em declínio, as cotações dos artistas mediáticos despencam. Aquelas pessoas que só viam a arte como investimento fogem como gafanhotos, sem o menor remorso. Oscar Wilde dizia que um homem que sabe o preço de tudo mas não sabe o valor de nada é um cínico; hoje a definição se aplicaria a um colecionador de arte.
Se o ciclo econômico de prosperidade dos Estados Unidos estiver mesmo terminando, a situação do sitema internacional da arte rapidamente sentirá seus efeitos: galerias fecharão as portas, e as pessoas darão risadas quando lembrarem a que ponto as cotações das estrelas de hoje.
Isso porque um dos efeitos perversos da redução de tudo à economia é que, aos poucos, entra na consciência das pessoas a idéia de que o que é caro é bom (se não fosse bom, não valeria tanto). Mas como o único lastro, a única fonde de legitimação do valor desses artistas, era o seu êxito (que de conseqüência de qualidades da obra passou a ser causa de um mecanismo de inflação especulativa), a diminuição da procura pelas suas obras leva as pessoas a se perguntarem se, afinal de contas, eles eram mesmo tão bons assim. Num mundo onde o mercado é o juiz supremo, e onde todos os valores são reduzidos a preços, perda de liquidez passa a ser sinônimo de perda de qualidade.
Esse filme já passou, no começo dos anos 90, quando as cotações de artistas contemporâneos caíram 65%, na média, e nem todos se recuperaram. Por exemplo, uma tela do artista Donald Sulton (da série Building Canyon) que valia 180 mil dólares em 1990 chegou a ser vendida por 10 mil dólares... em 2006! Você, leitor, pode comprar gravuras de Sulton por 5 mil dólares, no link www.artnet.com/artist/16275/donald-sultan.html.
Vamos ver quais serão as próximas vítimas, e quanto tempo vai passar antes da próxima bolha especulativa. Mas não é preciso ser um gênio para perceber que existe alguma coisa errada com as cotações de artistas contemporâneos. Por definição, esses artistas ainda não passaram pelo crivo do tempo e da relevância histórica - como todos os artistas modernos já passaram. Outra coisa: o critério da raridade - que influencia, por exemplo, a alta cotação do falecido Basquiat - não se aplica a eles, já que continuarão vivos e produzindo sabe-se lá por quanto tempo (se produzirem demais, o preço cai).
Por isso mesmo, estes artistas poderiam ser um ótimo investimento, ainda que arriscado: quem fizesse as apostas certas hoje, colheria excelentes resultados daqui a vinte anos, talvez. Mas a alucinação especulativa faz com que novos nomes já apareçam no mercado com a cotação nas alturas: uma obra conceitual imaterial pode valer mais que um Picasso. Subordinados ao imperativo de lucros rápidos, os ciclos de tempo se achataram artificialmente, de forma que em três ou quatro anos as obras de artistas como Richard Prince (abaixo, seu quadro Bachelor Nurse), Marlene Dumas, Peter Doig ou o chinês Yang Shaobin subiram 400%, graças à voracidade de uma nova geração de colecionadores ricos e à estratégia das grandes galerias (Gagosian, Anthony d´Offay, Saatchi, Sonnabend, Sperone Westwater etc) e de espertalhões como Charles Saatchi. Não existem referências reais e duradouras para cotações tão altas.
Os últimos anos foram de uma euforia verdeiramente impressionante, com uma escalada de recordes nos leilões, ascensões meteóricas nas cotações etc. Mas até que ponto isso levou a uma real difusão das artes ou à consolidação da importância da arte na vida das pessoas? O que aumentou, seguramente, foi a presença na mídia da arte como espetáculo e entretenimento: as exposições de sucesso são aqueles mega-eventos com patrocínio de grandes bancos ou corporações, que fazem marketing com dinheiro público por meio da renúncia fiscal. Enquanto isso, os museus e outras instituições culturais estão caindo aos pedaços, colocando-se em risco seu patrimônio.
Acelerou-se, também, a incorporação de artistas da periferia ao grupo especial do sistema da arte, mas é preciso ser muito ingênuo para acreditar que isto foi uma conquista dissociada de interesses comerciais do próprio sistema. Simplemente se compreendeu que esses mercados emergentes podem ser altamente lucrativos, e o número de artistas desses países é proporcional ao seu crescimento econômico: basta olhar a quantidade de artistas chineses na lista dos 500 mais valorizados do mundo em 2007 (uma espécie de índice Dow Jones das artes, no qual só entraram dois brasieiros: conseqüência da timidez do nosso crescimento "sustentável" - agora é que vamos ver se é mesmo sustentável: a evasão de capitais da Bolsa sugere que não). O fato de muitos negócios serem sigilosos, devido à desregulamentação total do mercado, só piora o grau de especulação e volatilidade deste mercado: muitas vezes as decisões são tomadas com base em rumores, num círculo restrito de players.
Aumentaram, por fim, as relações do mundo empresarial e corporativo com os museus e a produção artística, e seria ingênuo acreditar numa "boa cidadania corporativa". Feiras, Bienais e macro-exposições, a criação de prêmios internacionais de arte por griffes glamurosas como Giorgio Armani, Hugo Boss e Louis Vuitton, além da abertura de filiais de de museus como o Whitney e o Guggenheim em diversos países são os canais estratégicos para essa internacionalização do sistema da arte: em troca de uma vaguinha no circuito, o artista do Terceiro Mundo enquadra sua produção em modelos palatáveis, que por sua vez realimentam a aparência de diversidade do todo. Renovam-se assim estéticas pós-neo-coloniais, baseadas não mais na submissão passiva da periferia aos centros do sistema, mas na sua incorporação a de modelos transculturais e transnacionais de difusão.
É importante ressaltar aqui que o artista e a obra não têm mais a menor importância em si: eles valem como portadores de signos e valores que circulam e movimentam o sistema. Não se trata aqui, portanto, de uma reação "conservadora" a este ou aquele artista (embora eu me sinta livre, é claro, para achar uma bobagem bloa parte da produção contemporânea), mas de analisar como o sistema da arte funciona em seu conjunto, apontar sua dinâmica interna, seus laços com o capital mundial integrado etc. Artistas individuais só são citados como ilustrações dessa pesquisa (eu gostando ou não deles).
Não estou falando dos artistas em si, mas da grade simbólica em que a produção artística contemporânea, boa ou rum, se insere. Ou seja, rejeito de imediato qualquer reação raivosa baseada em a) na premissa de que meu objetivo é falar mal de artistas contemporâneas e b) na premissa de que qualquer contestação à produção artística contemporânea é conservadora ou de direita. Quem pensa assim simplesmente não entendeu nada do que escrevi.
O sistema da arte se transformou no ponto de encontro das elites da nova sociedade neoliberal globalizada, e o mercado de arte em seu bezerro de ouro. A arte contemporânea é hoje um componente natural da sociedade burguesa. Não se trata apenas de uma versão atualizada do velho jogo da busca por prestígio associada aos modismos da hora, movida pelo narcisismo do consumidor em busca de distinção social. Mudou algo muito mais profundo, e isto vem sendo tema de acalorados debates na França há mais de dez anos, envolvendo críticos, artista e filósofos.
(Curiosamente, apesar de ser o terceiro maior mercado de arte do mundo, a França não tem nenhum artista entre os mais vendidos; o melhorzinho é Christian Boltanski. As razões que explicam a baixa cotação dos franceses são: fraca visibilidade; obras teóricas demais, difíceis de vender, como as do movimento Support/Surface; falta de espírito internacional; falta de fluência dos artistas em inglês; pouco espírito de marketing; excessiva e desorganizada ajuda do Estado. Ou seja: razões de mercado, nenhuma de ordem propriamente estética. Observe-se especialmente a questã da ajuda estatal: a arte frncesa, altamente subvencionada, teria perdido sua "ambição"...)
Um sintoma de uma mudança de paradigma é a regressão - em comparação com o projeto moderno - da atitude em relação aos museus e instituições. De Marcel Duchamp aos movimentos dos anos 60 e 70, assistiu-se ao desmoronamento simbólico dos templos da arte, num movimento que parecia conduzir ao óbito os museus e a própria concepção de autoria individual.
Hoje o sistema voltou a sacralizar o museu e o artista - não mais como criador, mas como estrela, como alguém eleito por sua adequação ao sistema e seu talento mediático.
Antes existiam a arte e seus valores, em torno do quais se articulavam jogos de mercado, mídia e poder. Agora são os jogos de mercado, mídia e poder que engendram, fabricam e articulam a arte. O imperioso é "vender" produtos simbolicamente constituídos pela publicidade a um mercado de massa, e nesse processo se misturam negócios privados e supostos interesses públicos, por meio de políticas culturais baseadas na renúncia fiscal, que envolvem relações perigosas entre administradores, curadores, fiscais tributários, profissionais de museus e funcionários públicos. Não é à toa que, cada vez mais, a competência esperada dos diretores de museus consiste na busca de captação e na gestão burocrática do que no seu conhecimento real sobre o patrimônio artístico.
Quando poderosos grupos financeiros se unem a mega-colecionadores,com o apoio de museus, grandes galerias e do próprio Estado, eles não entram no jogo para perder: juntos eles determinam as cotações dos artistas, os estilos em alta, em suma, os movimentos do mercado, independentemente de quaisquer considerações de ordem estética, já que estas não são quantificáveis. O mundo empresarial investe em patrocínios e em coleções corporativas que conferem legitimidade a uma determinada produção artística, fabricando crenças coletivas em relação a essa produção. Nesse espetáculo, é necessária uma renovação veloz do elenco: freqüentemente um artista apontado como gênio na primavera já está obsoleto no outono.
Daí a multiplicação das feiras e bienais, que constituem o chamado mercado primário da arte - teoricamente o lugar onde os novos talentos têm a chance de aparecer. Os eleitos passam à esfera dos leilões públicos (o mercado secundário), onde os mais bem-sucedidos se estabelecem e passam a figurar em listas de cotações internacionais. Uma boa referência sobre o mercado é o site da Artprice (www.artprice.com), sobretudo para artistas nascidos após 1945.
A afirmação de um suposto pluralismo não é mais que a capitalização máxima de todos os nichos de mercado: há propostas para todos os gostos, todas as classes, todas as etnias, faixas etárias e orientações sexuais. Foi-se o tempo das disputas entre diferentes correntes estéticas em torno torno de pesquisas, manifestos ou linhas teóricas; hoje, o relativismo pós-moderno assegura a todas as manifestações o seu direito à existência e à convivência pacífica (e, naturalmente, à comercialização), nivelando tudo por baixo. Em comum, só a subserviência ao mercado, a alienação e a escassez de ideias genuínas num mar de repetições e imposturas.
Vivemos a era da reiteração. Mecanismos vorazes de repetição do mesmo, reiterado em versões cada vez mais caras, esmagam o impuso da criação, ou ao menos limitam drasticamente, sobr a aparência da diversidade, o campo da inovação artística. Hoje ele é dominado pelas variações lúdicas sobre propostas do passado, se possível com um efeito desconcertante ou irônico como o de uma gracinha: transgressões controladas, apropriações de apropriações, citações irônicas e provocações tediosas constituem hoje o vocabulário de boa parte da arte contemporânea de sucesso, isto é, da arte reconhecida pelo mercado e pelas instituições, isto é, da arte oficial.
Esse relativismo estético absoluto engendra no meio artístico uma situação inimaginável em outros setores da indústria cultural, por mais mercantilizados que sejam: a obra por designação. Em nenhuma outra atividade se chegou a esse extremo de achatamento de critérios: não basta eu querer ser cantor, ou ator, ou escritor, para ser aceito como tal; um mínimo de vocação, de técnica, de aprendizado são exigidos (ainda). Nas artes plásticas não. Como rigorosamente tudo pode ser designado como obra, qualquer um pode se afirmar artista, desde que caia nas graças do sistema por meio de uma rede de relacionamentos e uma estratégia de marketing adequadas. Neste contexto, não interessa a ninguém interrogar o sentido das obras, analisar os procedimentos de sua criação ou expor seus emcanismos de validação.
Não é por acaso que, cada vez mais, se difunde uma sensação de tédio diante de obras toscas e sem conteúdo, mas com pretensões pseudo-intelectuais; diante da mistura aleatória e arbitrária de linguagens sem qualquer coerência interna; diante de instalações falsamente provocativas ou contestadoras, rapidamente assimiladas pelas instituições; diante de projetos que misturam a alta tecnologia com a superficialidade do reality show. É como se bastasse fazer algo com ironia para lhe atribuir valor: aproximou-se o estético do estéril. Essa atitude leva a uma situação de indigência, à banalização e à trivialização da arte.
Na ilustração ao alto, Damien Hirst e uma de suas obras, um crânio cravejado de diamantes.
Monday, January 21, 2008
Jonathan Monk
Mais idéias soltas sobre arte
 Em 1910, Kandinsky pintou suas primeiras telas com signos e elementos gráficos não-figurativos, uma nova etapa no processo de libertação das convenções formais que começara com o Cubismo de Picasso e Braque, poucos anos antes. Na mesma época, Malevich pintava quadrados pretos sobre fundo preto e quadrados brancos sobre fundo branco. Em 1913 Duchamp criou o ready-made com sua roda de bicicleta e, quatro anos mais tarde, o fatídico urinol assinado R.Mutt - cujo original se perdeu pouco depois: O que existe hoje são réplicas "produzidas" por Duchamp nos anos 60. Depois vieram os objets trouvés dos surrealistas etc etc.
Em 1910, Kandinsky pintou suas primeiras telas com signos e elementos gráficos não-figurativos, uma nova etapa no processo de libertação das convenções formais que começara com o Cubismo de Picasso e Braque, poucos anos antes. Na mesma época, Malevich pintava quadrados pretos sobre fundo preto e quadrados brancos sobre fundo branco. Em 1913 Duchamp criou o ready-made com sua roda de bicicleta e, quatro anos mais tarde, o fatídico urinol assinado R.Mutt - cujo original se perdeu pouco depois: O que existe hoje são réplicas "produzidas" por Duchamp nos anos 60. Depois vieram os objets trouvés dos surrealistas etc etc. Nunca é demais lembrar que todas essas obras tinham um significado ligado ao contexto da época, à crise do ideal burguês de progresso que, diante dos horrores da guerra, parecia fora do lugar. Ao lado da pesquisa e da experimentação, a provocação era uma resposta artística das vanguardas européias a um mundo que se desmoronava. Nesse impulso anti-butguês, os artistas questionavam os cânones e a insitucionalização da arte - e contestavam toda autoridade, defendendo a aproximação entre a arte e a vida real. Essa negação das fronteiras entre a arte e a vida foi levada aos seus extremos nos anos 60 e 70, quando os happenings, o Living Theater, as instalações e a Body Art fundiram o espectador com a obra, em "acontecimentos" irrepetíveis e, portanto, impossíveis de comercializar ou institucionalizar.
Até o final do Modernismo, diferentes movimentos artísticos levaram adiante esse processo, dedicarando-se a renovar o próprio conceito de arte, explorando todas as possibilidades da forma, ao mesmo tempo em se engajavam nas questões éticas e políticas mais candentes. Já o pós-modernismo se dedicou à abolição da necessidade da forma e à desqualificação de qualquer projeto transformador. O que era um impulso de libertação do olhar - objetivo declarado de Malevich e Kandisnky (na imagem acima, Circles in a circle)e, por extensão, de toda a arte abstrata - acabou resultando na dissolução do olhar, ou ao menos de um certo tipo de olhar que era associado à experiência estética.
Ou seja, o pós-moderno fez o tiro moderno sair pela culatra: em vez de acabar com convenções enferrujadas da arte e suas instituições, todos os gestos de ruptura (incluindo o urinol de Duchamp) foram metabolizados pelos circuitos do mercado e da mídia. As antigas hierarquias não somente foram fortalecidas, mas se tornaram arbitrárias. O gesto e o objeto supostamente dessacralizadores foram sacralizados em milhões de dólares e museus prestigiosos. O artista, por sua vez, foi transformado em celebridade, e sua assinatura numa griffe. Sua mão e seu talento se tornaram dispensáveis. A arte não tem mais valor em si: é o artista que empresta à obra que produz o valor de sua fama e visibilidade.
De uma arte que buscava falar diretamente à sensibilidade do espectador, sem a mediação da palavra, passou-se a um caminho conceitual, dirigido ao intelecto. Paradoxalmente, essa desestetização da atividade artística não resultou num aprofundamento da reflexão teórica ou crítica, ao contrário: a arte se tornou auto-suficiente em relação ao pensamento, na mesma medida em que ficou mais e mais dependente dos mecanismos do mercado. Daí à rejeição automática de qualquer questionamento foi um pulo.
Fez parte desse movimento o esvaziamento e a "neutralização" da crítica, atividade contra-producente num sistema da arte agora atrelado ao desempenho econômico (material e simbólico). As opiniões são tímidas, apenas detalhes irrelevantes são postos em questão. Melhor indicar ao leitor coisas "interessantes", dar "dicas de programas" para o fim de semana do que analisar este ou aquele artista. Quanto ao espectador, seu tempo livre é cada vez mais contado e focado no entretenimento: se nem os´críticos têm consciência crítica, como cobrar isso dele?
A descrição literal das obras substituiu a reflexão. Sem e mediação do crítico, o espectador passou a ter uma atitude de aceitação passiva (e não mais deindagação/compreensão) daquilo que é designado como arte nos museus e galerias. Ou uma atitude de desinteresse, o que é cada vez mais freqüente fora do grupo fechado dos agentes do sistema. O que está por trás disso?
Até o Impressionismo, as funções de ornamento e diversão da arte mascaravam uma ideologia de endosso ao status quo. O projeto moderno, do Impressionismo até as décadas de 60 e 70 do século passado, teve como um de seus motores o questionamento crítico dos valores em que se assentava a sociedade.

Com o fim do Modernismo, num processo que começou com a Pop Art e desembocou no pluralismo atual, a arte voltou a fazer as pazes com o mundo, integrando-se em sua dinâmica de redes e de especulação. A Pop Art dava status de arte a elementos do imaginário do consumismo da classe média urbana americana, apropriando-se de revistas em quadrinhos, bandeiras, embalagens de produtos, itens de uso cotidiano e fotografias, numa mistura ambígua de crítica e exaltação. Essa atitude se reproduz até hoje em diversas vertentes da arte contemporânea.
Talvez seja injusto, nesse sentido, considerar alienada essa arte: ao contrário, ela se mostra plenamente engajada na afirmação do projeto neoliberal globalizado - tanto quanto o Construtivismo ou, mais tarde, o realismo socialista, se engajavam na afirmação do modelo soviético de sociedade. A arte contemporânea é amante da instituição, do mercado e da ordem reinante.
A arte contemporânea passou a compartilhar necessidades e valores com a moda, com o consumo, com a publicidade, com o espetáculo, com o próprio Estado ultracapitalista, e a recorrer aos mesmos mecanismos de autopromoção e sobrevivência: fabricação e manipulação de gostos e opiniões, ilusão de liberdade de escolha do cidadão-consumidor, afirmação do modelo presente como o único factível. Contra a "tradição do novo" moderna, a aversão a qualquer transformação verdadeira, a modéstia e a desconfiança cínica em em relação aos poderes da arte.
Esse espírito espelha a mensagem política do fim da História, segundo a qual não existe mais alternativa ao modelo neoliberal. Essa tese serve de escudo contra qualquer cobrança que venha de fora. Qualquer argumentação que não legitime incondicionalmente o valor da produção contemporânea é reacionária. Foi-se o tempo em que Campfleury criticava em Courbet o esforço para agradar aos burgueses. Hoje o sonho de todo artista é agradar aos mega-colecionadores, é ser incorporado ao acervo de mega-instituições. Sonho tornado acessível pela eliminação de qualquer pré-reuqisito ligado á técnica, ao aprendizado, à experiência e ao talento. O "saber-fazer" é hoje visto com ironia. O valor artístico migrou da obra para o gesto, para o artista, para a atitude, para a ambientação - desde que seja reconhecido pelo mercado, é claro.
Como, no quadro de relativização total do pós-modernismo todos os critérios de gosto e todas as hierarquias estéticas se desmancharam no ar, de certa forma todas as manifestações artísticas se equivalem, e qualquer garoto pode sonhar em se tornar o novo Damien Hirst - aliás a juventude passou mesmo a contar pontos: nessa época de obsolescência planejada, novos artistas geniais têm que aparecer com a mesma velocidade com que o show business lança novas cantoras, muitas vezes fazendo da encenação da transgresão uma eficaz ferramenta de marketing.
Só existe uma autoridade, a do sistema especulativo, que opera na base da manipulação e da miragem, decretando a falência de todos valores que pudessem se opor à lei única do mercado. "Bom", "belo" e "verdadeiro" viraram palavrões que só se pronunciam com cinismo. O moderno transgredia; o pós-modernocapitaliza a atitude da transgressão, sem transgredir mais nada - tanto que as obras mais transgressoras são compradas por milhões, muitas vezes com dinheiro público, sane-se lá com que interesses.

A rebeldia se transforma em arte oficial. O niilismo de superfície não contesta mais nada, ao contrário, reforça o modelo que supostamente critica. Piadas de mau gosto são vendidas como obras geniais: que verdadeira contribuição artística traz, por exemplo, um campo de concentração feito de bonecos Lego? Esta é a obra do artista polonês Zbigniew Libera, que naturalmente provocou protestos dos judeus etc.
Paul Virilio, outro pensador francês que se dedicou ao tema, demonstrou como os mecanismos de patrocínio e financiamento privado das artes nos Estados Unidos mascaram a manipulaçãoo ideológica da arte. A situação não é muito melhor na França, onde existe a tradição de um esforço dirigista por parte do Estado na cultura, mas ao menos na França o debate sobre o valor da arte contemporânea teve e tem uma enorme repercussão. Lá é possível a um intelectual como Virilio afirmar o seguinte: "L’art contemporain est un de ces mythes néo-libéraux devenu vérité imposée"
Se levado às últimas conseqüências, esse enquadramento total da arte leva a abolição do que ela tem de humano. Esse processo tem suas raízes no ready-made de Duchamp (incrível como um roda de bicicleta e um urinol puderam ter tantas conseqüências), na desvalorização da técnica, do artesanato, da habilidade e do talwnto, na desvinculação da obra em relação à mão do artista (outro momento capital desse movimento foram as pinturas por telefone de Moholy Nagy), que levou à serialização, à apropiração de imagens prontas, à separação entre idéia e realização da obra etc, à diluição de fronteiras entre a alta cultura e a cultura de massa (não confundir com cultura popular).
É curioso observar como artistas que ficaram de fora desse processo (de Picasso e Francis Bacon a Brancusi e Giacometti) são hoje vistos como superados, com certa complacência, pelos adeptos de Damien Hirst e outros artistas pós-modernos. Tavez porque suas obras cometam o pecado hoje inaceitável de comover, angustiar, surpreender, prometer trasnformações e ampliar o campo do possível.
Saturday, January 19, 2008
Baudrillard e a arte contemporânea

"Peut-être que l'art a seulement été une courte parenthèse dans l'histoire de l'humanité qui s'est ouverte à la Renaissance et qui s'est aujourd'hui déjà refermée, alors que l'immanence des objets, des images et des médias s'est substituée à la transcendance"
Jean Baudrillard
Chris Sharp, um dos editores da revista FlashArt, uma das mais importantes no mundo, bateu os olhos neste blog e me mandou um e-mail pedindo para lhe enviar um artigo em inglês. Mandei uma versão do post A falência da crítica de arte, se e quando for publicado aviso aqui.
Esse tipo de reconhecimento e estímulo é mais do que importante, porque no Brasil tentar debater arte contemporânea é pregar no deserto. Quem conseguiu seu lugarzinho ao sol não admite ser questionado, e quem ainda não conseguiu não quer ficar mal com os colegas bem-sucedidos. Quem sabe amanhã ou depois não rola uma bocada numa viagem para uma feira internacional, com apoio do Governo, não é mesmo?
Já escrevi que a desqualificação do interlocutor é o recurso mais pobre num debate, mas existem outros, como fingir que as questões propostas não existem, ou... classificar de reacionária e direitista qualquer crítica. Me pergunto se essa gente sabe o que são direita e esquerda. O truque é simples: arrastando para o terreno político a discussão, evita-se tocar no que interessa.
Aqui, mais uma vez, o consolo vem de fora. Já citei, para fundamentar algumas idéias, o sociólogo Pierre Bourdieu, que ninguém pode considerar direitista. Regis Debray e Luc Ferry também questionaram aspectos da arte contemporânea, e tampouco são pensadores de direita. Vou citar agora o filósofo Jean Baudrillard, que aliás é muito citado pelos pós-modernos. Tive a oportunidade de entrevistar Bourdieu e Baudrillard, e deste último traduzi um livro, A ilusão vital, lançado pela Civilização Brasileira.
Pois bem, em 1996, em meio a um acalorado debate sobre arte contemporânea que durou anos na França - mas que ainda não chegou ao Brasil, infelizmente - Baudrillard publicou no jornal Libération (que tampouco pode ser classificado de direitista) dois artigos, Le complot de l'art e L'art contemporain est nul, nos quais reduzia toda a produção artística de nosso tempo a uma nulidade insignificante e superficial. "A arte se integrou ao ciclo da banalidade", escreveu.
Sobre as reações enfurecidas que se seguiram, Baudrillard declarou, numa entrevista à revista Época: "Há muita coisa ali, e nas entrevistas que saíram depois [à revista Artpress, por exemplo], que as pessoas não leram e não quiseram ler. (...) Ninguém discutiu. Ninguém leu. (...) As pessoas só querem acertar contas. (...) de um lado você tem o problema da arte, nulidade ou não, isso se discute. De outro lado, há a questão política. (...) A confusão deles foi a de transportar o problema estético à ideologia política, e de dizer que se eu coloco a arte contemporânea em questão, é porque sou de extrema direita. Com esta colagem, eles anularam toda a problemática. Isso é o que é o pior. São práticas intelectuais ignóbeis, verdadeiramente fascistas.
Menos de um mês depois da morte de Baudrillard, no ano passado, o crítico André Rouillé foi capaz de escrever o seguinte: "Jean Baudrillard e seus êmulos tornaram possível a certas pessoas serem abertamente inimigas da arte contemporânea, como outras pessoas são racistas, sem complexos, num total desconhecimento do objeto de seu ódio ou de seu desprezo". Desonestidade e mau-caratismo intelectual da pior espécie, mas que segue a mesma lógica: satanizar o crítico como direitista, reduzir a crítica à ignorância.
O que Baudrillard apontou, com seu refinamento habitual, foi que o sistema da arte passou a trocar e negociar signos, e não mais obras. Foi além: comparou a classe artística à classe política, "já que as duas se caracterizam hoje por um discurso auto-referencial, quase autista, no qual os signos produzidos pelos diferentes atores não se destinam a ninguém mais além deles mesmos. É uma encenação que não remete a nenhuma realidade, numa implosão generalizada do sistema de valor". Da mesma forma, afirmo, o crescente desinteresse da população pela participação política reflete o ceticismo e a indiferença das pessoas comuns em relação à arte contemporânea.
Daria para escrever um livro inteiro sobre os desdobramentos das teses de Baudrilard sobre a arte, mas vou parar por aqui. Que o exemplo sirva para algumas pessoas abrirem sua mente em relação ao debate sobre a produção artística contemporânea.
Agora é a vez do queijo
 Obra de Rosângela Rennó
Obra de Rosângela RennóIt goes without saying, 2007
(queijo da Serra da Canastra, aroma de goiabada e mesa em ferro)
atualmente em exposição no Museu Mineiro, em Ouro Preto, integrando a mostra "S/ Mesa de QueijoS"
(Depois comento. Ou não)
___
Pois é, o que dizer dessa obra? Dá até uma certa preguiça, sinceramente, e olhem que eu gosto de queijo. Fica difícil falar qualquer coisa que não seja uma platitude. O próprio título da obra é revelador (mas por que em inglês?). Na minha opinião, se uma artista conceituada se sente à vontade para apresentar isso como obra de arte e se o mercado e o público absorvem isso como obra de arte, a arte contemporânea virou brincadeira. Simples assim.
Bienal do Mercosul na rede
Uma boa maneira de acompanhar a recente produção artística latino-americana é acessar os catálogos e o guia da 6ª Bienal do Mercosul, que estão disponíveis gratuitamente através de download no site www.bienalmercosul.art.br. Para acessar os arquivos PDF, basta entrar na seção Biblioteca Virtual e clicar no link Publicações.
Friday, January 18, 2008
A falência da crítica de arte

É mais ou menos consensual, mesmo entre os próprios artistas, que a crítica de arte perdeu relevância e poder. Isso não acontece só no Brasil: nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França o tema já foi assunto de acalorados debates. É inimaginável o surgimento hoje de um Clement Greenberg (foto) ou um Harold Rosenberg, por exemplo, que exerceram uma influência decisiva no meio artítisco americano nas décadas de 50 a 70; ou, no Brasil, de um Mario Pedrosa, que ajudou a construir o nosso discurso crítico sobre o Modernismo. (Mesmo assim, Greenberg ainda é o crítico por antonomásia, o nome que se associa imediatamente à figura do crítico de arte, já que a produção contemporânea não gerou nenhum crítico relevante - Arthur Danto está comprometido demais com a tese do "fim da arte" para assumir esse papel).
Hoje, os próprios críticos remanescentes admitem que seu papel deixou de ser o de juízes para ser o de espectadores. E para quem sobrou a função de juiz? Ao curador. Os críticos trocaram o papel de mediação ativa que tiveram no passado pelo papel passivo de comentadores neutros, na periferia do sistema da arte. Com poucas exceções, isso se manifesta tanto na imprensa quanto na produção acadêmica, sendo que esta tem um agravante: o obscurantismo da linguagem, que dá um verniz de sofisticação e de inacessibilidade à falta de rigor e a incapacidade de se expressar claramente.
A verdadeira crítica incomoda: imaginem se um crítico tivesse hoje poder para desancar as imposturas de Damien Hirst: o que seria dos marchands e colecionadores que levaram suas obras a cotações estratosféricas? Nas medida em que a arte se sofisticou como investimento especulativo e dinheiro de verdade começou a fluir, ela não poderia estar mais sujeita a opiniões de especialistas que não estivessem comprometidos com o mercado, daí o esvaziamento estratégico da figura do crítico.
Os próprios interessados na valorização especulativa da arte roubaram para si o papel de identificar – ou simplesmente designar – novas tendências, novos nomes, novas obras. Ou seja: a pessoa que vende os ingressos para a exposição é a mesma que garante a sua qualidade, o que tem implicações óbvias. Além disso, os agentes do sistema da arte passam boa parte do tempo viajando (existem mais de 200 bienais no mundo), coisa que poquíssimos críticos têm condições de fazer - e isso se torna mais um pretexto para o curador roubar para si o papel da crítica. E quem contesta é desinformado, precisa viajar mais etc.
Chegamos num ponto em que, nos Estados Unidos, esses agentes do sistema visitam regularmente as exposições das escolas de arte, para eleger s gênios do futuro antes mesmo de eles se graduarem. Nesse contexto, um dos fundamentos da atividade crítica – a descoberta dos novos artistas e o estímulo à consolidação de suas carreiras – foi eliminado. Ou seja, o crítico não tem mais o poder de criar nem de destruir uma reputação – e, para o mercado, é ótimo que seja assim.
A crítica só persiste como encenação: o vazio de significados dos textos críticos reflete o vazio de importância dos próprios críticos. Basicamente, a atividade só sobrevive com a função de chancelar intelectual para uma produção determinada pelas redes do mercado: da mesma forma que um currículo de exposições no exterior, um corpo de textos elogiosos ajuda a conferir respeitabilidade às novas estrelas junto aos museus, colecionadores e o público em geral.
Alguém precisa escrever esses textos, é claro. E, como aparecer assinando textos que terão circulação internacional faz bem para o ego, não falta quem se disponha a escrever por encomenda, seja entre jornalistas, seja professores de História da Arte, duas profissões, como se sabe, mal remuneradas. O atrativo do circuito social da arte, com suas festas e rituais próprios, também tem seu peso, naturalmente. Para o crítico, como para o artista, é mais importante hoje a rede de relacionamentos e a cumplicidade com as regras do jogo do que o conhecimento técnico das antigas regras estéticas de seu ofício. Uns e outros refletem (no sentido de espelhar, não de pensar) acriticamente a mercantilização da esfera artística.
Além disso, perdeu-se o entendimento da crítica como um gênero literário. No passado esperava-se que um crítico soubesse escrever bem, que tivesse um estilo próprio e que fosse capaz de persuadir o leitor a acreditar na sua interpretação da obra analisada – e de fazê-lo refletir sobre o que vê. Não é casual que tantos críticos tenham sido também escritores, bastando citar Baudelaire. Hoje o crítico não está preocupado em atingir uma grande audiência, nem escreve mais para o leitor, mas para seus pares e para os outros agentes do sistema da arte – ou do sistema acadêmico, no caso dos textos universitários – que, no Brasil, nunca se caracterizaram pela clareza.

Na América, o crítico "conservador" (rótulo sempre aplicado com sentido pejorativo, e não apenas nas artes; empregando-o, um artista jovem que não sabe nada da vida fica à vontade para ignorar tudo o que tem a dizer um crítico como Robert Hughes, por exemplo, ou Ferreira Gullar - um e outro, como se sabe, reacionários e conservadores) Roger Kimball formulou isso da seguinte maneira: os críticos foram para a cama com a ideologia pós-moderna. Só assim é compreensível que eles legitimem obras tão diferentes como um tubarão cortado ao meio de Damien Hirst e as esculturas de chocolate (foto acima: cubos de uma tonelada, roídos nas bordas pela própria artista) de Janine Antoni, para só citar dois exemplos.
Para isso, a crítica precisa adotar critérios tão heterogêneos e disparatados quando as próprias obras de arte contemporâneas - ou copiar esses critérios dos press-releases das galerias e museus. Isso também ajuda e entender a resistência dos críticos a opinar, a ter uma atitude assertiva, a declarar se gostam ou não de uma obra, se ela é boa ou ruim. Apático e descafeinado, crítico passou a duvidar da própria autoridade - outra atitude tipicamente pós-moderna, e o próprio conceito de "qualidade" perdeu sua legitimidade, a partir dos anos 80. Assim o crítico se tornou um mero veículo para idéias do artista sobre seu próprio trabalho. Fazer um jugamento de valor seria reforçar antiquadas hierarquias de poder simbólico, é claro.
Por fim, até o Modernismo, a arte estava indo para algum lugar; foi assim que Clement Greenberg pôde, tendo ou não razão, interpretar a arte moderna como um processo histórico cuja lógica interna desembocou no expressionismo abstrato - e coerentemente, a questionar a "artisticidade" dos ready-mades de Marcel Duchamp e das paródias da Pop Art. Com o decreto pós-moderno do fim das grandes narrativas, os artistas perderam essa ambição de abrangência e passaram a se movimentar de forma errática, seguindo os fluxos do mercado com seus comentários neutros e modestos, caso a caso. Com isso se dissolveu a base para qualquer interpretação consistente da arte contemporânea. Em que valores se pode basear o julgamento de um cubo de chocolate ou de uma mesa de pingue-pongue coberta de cascas de ovo?
Johnny vai à guerra 2

Seguem comentários dos leitores (daqui e do portal G1) à minha crítica ao filme Meu nome não é Johnny:
Noga Lubicz Sklar said...
Luciano, não vi o filme, mas vi a entrevista do João e do Selton na Marilia Gabriela. Resta observar se o filme não é, na verdade, fiel ao personagem que representa. Essa leveza, ou melhor, superficialidade, ou melhor ainda, falta de uma consciência dramática, do drama que atravessou, parece descreve-lo bem.
Tagg said...
Acho que não gosto de você (ia dizer que 'te odeio pra sempre', mas depois achei pesado para uma primeira msg). O que vc diz me incomoda. Nada de novo o que vc diz, nada que eu não soubesse, mas dizer é algo, né? Dizer de novo. E o que vc disse é um tanto o que eu quis dizer após ver o filme... Não quis, não pude.
milabart said...
Oi, Luciano,
Leio sempre seu blog, gosto das questões que você traz aqui.
Vi "Meu nome não é Johnny" e vi também a entrevista do João e do Selton na Marília Gabriela (que, aliás, na minha opinião, não soube aproveitar muito bem os seus entrevistados). Concordo com o comentário da Noga. Parece que foi mais ou menos da forma representada no filme que o João viveu tudo aquilo. Sem maiores reflexões ou culpas. Não acho que o filme perca por não trazer à tona questões mais sérias e profundas, se a intenção era apenas contar a história do João.
Lu said...
Olá Luciano, discordo com sua crítica sobre o filme...sobre a primeira frase: baseado em fatos reais, ela realmente faz sentido,pois foi uma história inspirada (baseada) na realidade vivida por João Estrella. E inclusive o próprio em várias entrevistas disse que tanto o filme quanto o livro não fugiu mto a realidade. Sobre o comportamento do João ele foi um jovem inconsequente e q não teve limites impostos por seus pais, mas ele não matava, não roubava, e sim envolveu - se com o tráfico para sustentar seu próprio vício, então realmente ele não era um bandido e sim um viciado, e como td pessoa doente, viciada merece a chance de recuperação creio q a decisão da juíza foi a mais acertada, tanto é q a prova disso é hoje o João ter se livrado das drogas, ser um grande musico e se tornar a Estrella de um filme. E se ele tivesse sido condenado a anos de prisão? Quem seria o João hoje? Talvez seria um desses viciado q não tiveram a msm chance q ele, vivem em cadeias superlotadas e entraram pra bandidagem por falta de opção. Quem nunca errou q atire a primeira pedra. Pois com crtz alguma vez vc já errou (ou vai errar) q qdo isso aconteceu vc deve ter tido o arrependimento e o desejo do perdão, o direito de uma chance.
Felipe said...
Não tem o que pôr nem o que tirar do seu comentário...
acabei de assistir o filme e voltei pra net ansioso para ver as opiniões dos jornalistas, e fiquei espantado como aparentemente ninguém "percebeu" o desserviço que este filme pode trazer à sociedade (não como "biografia inofensiva", e sim como filme de massa formador de opinião), desfazendo todo o "progresso" conseguido pelo Tropa de Elite ao plantar na cabeça dos brasileiros a semente da possibilidade de considerar um traficante de drogas como criminoso afinal, oras bolas!
E agora, como sempre, paciência, o bandido é o herói. Mais uma inversão de valores para a nossa coleção cinematográfica.
Aщa said... Acabo de ir al cine a ver Meu nome não é Johnny.
Es un poco como si sus hechos no tuvieran consequencias mayores, en Bicho de Sete Cabeças el joven no hace nada malo pero termina pagando con todo lo que tiene. Aquí la vida de un narcotraficante se convierte en un acto de lujo, un par de años de manicomio como lo muestran en esta pelicula, no parece ser la gran cosa después de una vida así. Además, tener a un actor simpatico nunca sirve para "educar". Saludos.
por Ernâni Getirana de Lima:
Rapaz, eu não assisti ao filme mas fico sempre com o pé atrás nessas horas. Acho difícil se fazer filmes ultimamente sem que o diretor sapeque violência, mais violência e mais sexo e mais sexo e mais violência e mais sexo. Ou seja: estamos entupidos disso por tudo o que é lado. Saladazinha de uma classe média que só faz média? Nada mais profundo nesse mundinho miúdo pós-modernoso? Você vai assisti, o cara escreve sobre no jornal e … Eu não sei não. Há algo de podre no reino da Dinamarca…se é que estão me entendendo… (ou não)!
por páulo freitas:
Concordo com os seus comentarios a respeito do filme , Meu nome não é johnny, um viciado quando deixa as drogas, não fica tranquilo como apareceu no filme e ai esta a falha do filme, mostrou que as drogas não tem efeitos colaterais algum…….
por brn:
concordo muito contigo. talvez a solução (se é q isso se aplica) seria um encontro do joaoestrela com o cap.nascimento! será q o aspira zonasul pediria pra sair, afinal ele ‘não’ é bandido…
por claudio:
meu amigo, que texto fabuloso você transformou em palavras o que eu senti vontade de dizer após assistir alguns outros filmes (e até mesmo no cotidiano) alguém ser preso, condenado ou sofrer algum cerceamento pelo seu insucesso por um “vacilo” , dependendo de quem descreve o individuo dá uma conotação que cerca (sem dizer diretamente, mas dando a entender) que deveríamos ter pena - o meu mais sincero parabém!! pelo seu texto
por Alex Balint:
Olá Luciano, tem coisas que concordo e tem coisas que eu discordo. Como assim o Johnny não sabia o que era dentro ou fora da lei ? 6kgs de pó é legal ? Não sou adv, mas sei que tráfico internacional é crime grave….. palmas para o advogado que conseguiu reduzir a pena - 2 anos só! Qtas familias ele estragou vendendo cocaina para seus clientes ?
por Carolina:
Eu acho q o brasil tah de saco cheio de fazer filmes politicamente corretos, que tem q fazer a pessoas pensarem, q mostra a vilencia, pobreza, desigualdade social…
pq não podemos simplesmente fazer um filme contando uma historia sem transformar em uma grande lição de moral…. eu estou cansada de filmes como central do brasil, carandiru, cidade de deus, caminho da nuvens, e tantos outros…e acredito q a população brasileira também, na minha modesta opiniao, estamo com toda a razao.
por Docinho:
Eu assisti o filme e achei uma super lição de vida….acho que fica bem claro que ele se envolveu com uso e tráfico de drogas por não ter tido limites em sua vida e não ter alguém lhe dizendo o que era certo ou errado. Acho que fica bem claro tbm que a juiza decidiu dar uma oportunidade de recuperação a ele e ele soube aproveitar bem, pois se ele fosse para uma cadeia e não para um manicomio ele poderia sim se tornar um criminoso muito pior.
por Aluizio:
Sou estudante de jornalismo e vejo o quanto são despreparados os críticos cinematográficos de nosso país. São poucos os que conseguem enxergar através dos filmes, nos apresentando um texto sem burocracia e chavões. Estou farto de comentários reducionistas e de “críticos” recontando o que se viu na tela palpitando como o filme deveria ser ao invéis do que ele é. Luciano, se você acha que o filme deveria ser de outra forma então ele seria outro filme. Seria o seu filme. Seja diretor de cinema então, e não crítico!
por Andrei Alvarenga:
Péssima crítica. Preconceituosa e moralista.
por Alexantre:
O problema do cinema brasileiro por muito tempo foi esse. Querer sempre mostrar uma questão social, dar uma lição de moral e mudar o comportamento do público. Foi o que Tropa de Elite fez, e foi um sucesso (com razão). O problema é que nem só disso vive o cinema, e uma obra menos “comprometida” acaba sendo desvalorizada por não apresentar esse modelo de enredo. Para algumas pessoas, a vida é uma festa que não termina, e embora isso não seja certo, é uma realidade que o filme não erra em mostrar. A mentalidade do personagem é sim, como foi dito, leve demais para a gravidade da experiência que o filme aborda. Filmes afetam o público de formas diferentes, e embora alguns cobrem aquele modelo “Tropa de Elite” (ideal para a proposta do filme), outros ficam mais indignados vendo o personagem levando uma vida sem assumir responsabilidades pelo que fazem. É também uma experiência transformadora, e o clichê é bem menor do que o do “Tropa de Elite”. Isso pra não mencionar outras questões, como a de que um filme sobre tráfico e crime não precisa se comprometer a mostrar a gravidade destes problemas em si, mas essa trama pode servir como plano de fundo para outras questões. Cada um interpreta como quer, e uma cena “politicamente incorreta” pode passar para alguns uma mensagem mais válida do que cenas mais politizadas. Muita gente é contra o tal “cinema puramente por entretenimento”, mas esquecem de que, se o filme cativou o público, é porque houve certo tipo de identificação. É triste que aconteça com frequência com filmes pobres de enredo, mas não é o caso de “Meu nome não é Johnny”.
Thursday, January 17, 2008
Johnny vai à guerra
 Conheço e admiro o trabalho do jornalista Guilherme Fiúza, autor do livro que deu origem ao filme Meu nome não é Johnny, mas achei um equívoco completo o artigo que ele publicou na página de Opinião de O Globo, sábado passado (clica na imagem para ficar legível). Mandei o texto abaixo para a seção de cartas do jornal, mas não foi publicado.
Conheço e admiro o trabalho do jornalista Guilherme Fiúza, autor do livro que deu origem ao filme Meu nome não é Johnny, mas achei um equívoco completo o artigo que ele publicou na página de Opinião de O Globo, sábado passado (clica na imagem para ficar legível). Mandei o texto abaixo para a seção de cartas do jornal, mas não foi publicado.Inocente o artigo "O fuzil e o baseado", de Guilherme Fiúza. Já está na hora de entender que usar drogas hoje não representa qualquer forma de contestação, como em 1968, mas adesão pura e simples a um comércio que gera violência e dor em escala industrial. Johnny pode se ter tornado um barão do pó sem pegar em armas, mas quantos tiros não foram dados para que o pó chegasse na sua mão? E basta visitar um centro de recuperação de dependentes para constatar que os problemas da droga não decorrem apenas de sua ilegalidade. Por fim, jogar a culpa no "sistema perverso", como se não existisse responsabilidade individual, é a melhor maneira de deixar tudo como está, deixando o consumidor à vontade para continuar dando dinheiro para o crime - como o próprio autor do artigo reconhece. Parabéns aos cineastas Fernando Meirelles e José Padilha (a gente boa e culta a que o artigo se refere) por desafiarem a patrulha ideológica que desqualifica como moralista e reacionária qualquer manifestação anti-drogas.
O leitor com a palavra
Transcrevo abaixo uma mensagem de Luiz Ventura, que enriquece o debate.
_______
Acredito que, para melhor compreender os problemas das artes plásticas é preciso, antes de mais nada, conhecer as causas que deram origem a essa "radical mudança na arte"; mudança criada, imposta e financiada mundialmente pelos norte-americanos visando a hegemonia econômica, cultural e política daquele país; essa "radical mudança na arte" foi o resultado de ato político, inteiramente desvinculada da realidade, dos interesses e da cultura dos demais países.
Para melhor conhecer o ocorrido seria interessante que os nossos estudiosos procurassem saber as razões que levaram à criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo e da Bienal de São Paulo.
Seria igualmente interessante revelar o papel desempenhado pela CIA no campo da cultura em nosso país, mostrar o papel do Museu de Arte Moderna de Nova Iork nessa empreitada, saber um pouco mais das constantes viagens feitas ao Brasil pelo sr. Nelson Rockefeller, e da atuação das várias Fundações e empresas multinacionais atuantes no campo das Artes no Brasil, dentro do quadro da chamada Guerra Fria Cultural.
Conhecida as raízes que geraram essa mudança radical e a posterior destinação da arte - que deixa de ser produto cultural para se tornar mera mercadoria - fica mais fácil entender o papel reservado pelas elites às artes plásticas no Brasil e no mundo, saber quem se beneficia disso - e a razão do beco sem saída em que arte 'contemporânea' se encontra.
Eu acho que cada um tem o direito de fazer o que quer, não acho correto fazer restrições. Tenho porém a obrigação de registrar a minha mais profunda decepção à submissão da maioria dos profissionais de artes plásticas - artistas, professores, críticos, promotores, divulgadores, jornalistas etc.- à política cultural colonialista imperante.
Essa brutal interferência é responsável pela perda irreparável de um sem número de artistas e estudiosos de talento, que se encontram perdidos na fabricação de obras sem sentido, totalmente alheias às nossas necessidades, realidade e cultura.
Há quase 60 anos Nelson Rockefeller proclamou ser o Expresssionismo Abstrato a pintura da livre empresa, empregando milhões de dólares em sua difusão. Nessa mesma época a CIA considerava que "a propaganda mais eficaz era do tipo em que o sujeito se move na direção que você quer por razões que ele acredita serem dele".
Em 60 anos a CIA conseguiu a proesa de fazer as artes plásticas caminharem do "Expressionismo Abstrato" ao "Cocô na Lata". O rei está nu, essa verdade deve ser divulgada não aceitando como Arte tudo o que se chama atualmente de arte.
Pode ser que eu me engane, acredito porém que, ao mudar as 'circunstâncias materiais e históricas' que a sustentam, essa produção elitista, hoje incensada, badalada, premiada, proclamada, escrita, fotografada, vendida e comprada será, a exemplo das teses sobre o sexo dos anjos, totalmente esquecida.
Considero como elite a definição de Joaquim Francisco de Carvalho: "elite é o estrato social que controla os recursos materiais e humanos da nação e tem poder para promover ou bloquear iniciativas capazes de influir nas políticas
públicas" ou, em poucas palavras: os donos do poder.
_______
Acredito que, para melhor compreender os problemas das artes plásticas é preciso, antes de mais nada, conhecer as causas que deram origem a essa "radical mudança na arte"; mudança criada, imposta e financiada mundialmente pelos norte-americanos visando a hegemonia econômica, cultural e política daquele país; essa "radical mudança na arte" foi o resultado de ato político, inteiramente desvinculada da realidade, dos interesses e da cultura dos demais países.
Para melhor conhecer o ocorrido seria interessante que os nossos estudiosos procurassem saber as razões que levaram à criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo e da Bienal de São Paulo.
Seria igualmente interessante revelar o papel desempenhado pela CIA no campo da cultura em nosso país, mostrar o papel do Museu de Arte Moderna de Nova Iork nessa empreitada, saber um pouco mais das constantes viagens feitas ao Brasil pelo sr. Nelson Rockefeller, e da atuação das várias Fundações e empresas multinacionais atuantes no campo das Artes no Brasil, dentro do quadro da chamada Guerra Fria Cultural.
Conhecida as raízes que geraram essa mudança radical e a posterior destinação da arte - que deixa de ser produto cultural para se tornar mera mercadoria - fica mais fácil entender o papel reservado pelas elites às artes plásticas no Brasil e no mundo, saber quem se beneficia disso - e a razão do beco sem saída em que arte 'contemporânea' se encontra.
Eu acho que cada um tem o direito de fazer o que quer, não acho correto fazer restrições. Tenho porém a obrigação de registrar a minha mais profunda decepção à submissão da maioria dos profissionais de artes plásticas - artistas, professores, críticos, promotores, divulgadores, jornalistas etc.- à política cultural colonialista imperante.
Essa brutal interferência é responsável pela perda irreparável de um sem número de artistas e estudiosos de talento, que se encontram perdidos na fabricação de obras sem sentido, totalmente alheias às nossas necessidades, realidade e cultura.
Há quase 60 anos Nelson Rockefeller proclamou ser o Expresssionismo Abstrato a pintura da livre empresa, empregando milhões de dólares em sua difusão. Nessa mesma época a CIA considerava que "a propaganda mais eficaz era do tipo em que o sujeito se move na direção que você quer por razões que ele acredita serem dele".
Em 60 anos a CIA conseguiu a proesa de fazer as artes plásticas caminharem do "Expressionismo Abstrato" ao "Cocô na Lata". O rei está nu, essa verdade deve ser divulgada não aceitando como Arte tudo o que se chama atualmente de arte.
Pode ser que eu me engane, acredito porém que, ao mudar as 'circunstâncias materiais e históricas' que a sustentam, essa produção elitista, hoje incensada, badalada, premiada, proclamada, escrita, fotografada, vendida e comprada será, a exemplo das teses sobre o sexo dos anjos, totalmente esquecida.
Considero como elite a definição de Joaquim Francisco de Carvalho: "elite é o estrato social que controla os recursos materiais e humanos da nação e tem poder para promover ou bloquear iniciativas capazes de influir nas políticas
públicas" ou, em poucas palavras: os donos do poder.
Subscribe to:
Posts (Atom)





