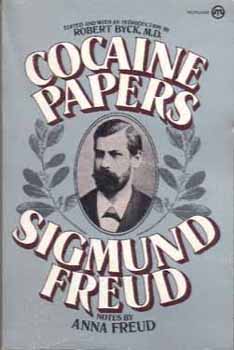Achei outra entrevista interessante do Ferreira Gullar, que saiu publicada no Jornal de Brasília. Vale a pena ler.
É importante lembrar que Oiticica e Ferreira Gullar participaram juntos da criação do Neoconcretismo, no final dos anos 50. Em 1959, Gullar escreveu o Manifesto Neoconcreto, que influenciou decisivamente o desenvolvimento da obra de Oiticica. Em seguida, Gullar formulou sua Teoria do Não-objeto, a partir da observação do processo criativo de Lygia Clark.
Na foto, Helio Oiticica sambando com Rose da Mangueira.
Jornal de Brasília - No que consiste e o que induziu a esta situação de mistificação no território das artes?
Ferreira Gullar - A questão é que as tendências mais radicais da arte contemporânea levaram a uma destruição das linguagens artísticas. Por falta de coragem, não se faz a crítica deste processo, no momento em que as propostas radicais da vanguarda chegaram a um ponto de exaustão, chegaram a um ponto onde não tem mais nada a ver com a arte.
J.B. - Como isto se torna possível?
Gullar - Por um lado existe uma crítica omissa, conivente e conveniente por outro lado existem instituições que, de alguma maneira, dependem desta situação para sobreviver. Você tem o exemplo de uma exposição de renome internacional como a Bienal de Kassel, que teve como curador um sujeito que declarou que não sabia mais o que era a arte. Ele selecionou os nomes dos artistas. Claro que não é possível definir cientificamente o que é arte. Mas se uma pessoa não sabe o que é arte não tem condições de organizar uma Bienal.
J.B. - Qual o alcance da crítica que dirige a Marcel Duchamp? Até que ponto nega Duchamp? Ele não ampliou o repertório, os materiais e os limites da arte?
Gullar - É preciso colocar as coisas em seu devido lugar. Eu não nego a importância de Marcel Duchamp. Mas ele é apenas um dos ampliaram o campo da arte para as novas formas como objeto. O caminho que ruptura com as formas tradicionais já havia sido aberto pelos dadaístas. E o próprio caminho que Duchamp segue é uma conseqüência de papier collé cubista. A utilização da estopa, areia e prego nos quadros cubistas já prenuncia o abandono da tela e a incorporação do objeto como matéria da arte. Duchamp não nasceu do nada. A diferença está entre o que Duchamp fez no tempo dele e no que se quer fazer hoje.
J.B. - Em que sentido?
Gullar - Quando Duchamp enviou um urinol a um salão estava realizando um gesto de alto inconformismo e denunciando uma série de imposições que envolviam a arte naquele momento. O urinol não é obra de arte. Quando ele fez isto o seu gesto era rebeldia, mas hoje seria puro conformismo. As instituições já assimilaram este gesto. Esta atitude de denúncia e de arte sem linguagem já se exauriu. Em Duchamp esta atitude era significativa de uma postura ética. Mas por outro lado contribui para a destruição da obra de arte. Duchamp sacrificou a sua obra em razão desta atitude ética. A obra de Duchamp é datada.
J.B. - Em entrevista, você afirmou que Lygia Clark e Hélio Oiticica eram excessivamente cerebrais. Mas a busca dos dois não era precisamente do sensorial?
Gullar - O Hélio era um cara de um indiscutível talento e que levou ao ponto extremo as experiências do neo-concretismo do qual eu era o teórico. E digo mesmo que houve uma influência recíproca dos artistas plásticos sobre a minha poesia e da minha poesia sobre os artistas plásticos. O meu Poema Enterrado influenciou os trabalhos de Hélio. Então eu não estou falando de fora. Nós pegamos a linguagem concreta e altamente intelectualizada e colocamos uma nova substância nela. A Lygia tem uma trajetória de uma enorme coerência, desde o momento em que os quadros delas incorporaram a moldura como espaço de expressão até a série Bichos, inovadora e verdadeira. Mas, ao invés de aprofundar o desenvolvimento desta linguagem, ela resolveu seguir adiante, destruindo a própria linguagem. Quando coloca sacos de papel na parede ou fios de nylon na boca, reduz a experiência estética a algo meramente sensorial. Acaba com a dimensão reflexiva e espiritual da obra de arte. E consequentemente o homem se torna um bicho. E agora respondo a sua pergunta: o excesso de intelectualismo levou ao puro sensorial.
J.B. - Mas você faria esta mesma avaliação do trabalho de Hélio Oiticica?
Gullar - O último trabalho que vi do Hélio era uma instalação no Hotel Meridien. Era um espaço com água e pedrinhas. Você tinha de retirar o sapato para sentir a água e as pedra. Olha só aonde leva este cerebralismo: a idéia de recriar a natureza dentro de um hotel. Francamente, se é para sentir a natureza acho melhor ir para Mauá. E, ao invés de colocar as implicações deste tipo de atitude, a crítica fica louvando. Quem criticar isto é careta ou reacionário. Outro dia eu tive uma discussão com uma amiga minha e ela citou Andy Warhol que dizia que uma atitude podia ser uma obra de arte. Mas quem é Andy Warhol? É o papa? É deus? Ele era um artista interessante que se rendeu ao comercialismo. Como teórico para mim era um babaca.
J.B. - Não haveria, por exemplo, sintonia entre os parangolés de Hélio Oiticica e os mantos de Arthur Bispo do Rosário?
Gullar - Não tem nada a ver. Os parangolés surgiram a partir do momento em que Hélio Oiticica passou a freqüentar a escola de samba da Mangueira. É algo muito pobre se você comparar com a roupa de uma porta-bandeira, colorida, barroca, popular. É uma arte que remonta ao século 17. Aí o Hélio botava a roupa em um passista e pedia ara o cara rodar e falava que isto ele estabelecia uma relação da forma com o espaço e a luz. É pura teoria. Qualquer objeto rodando mantém uma relação com o espaço e a luz.
J.B. - Mas a incorporação que o Bispo faz dos objetos não evoca a procedimentos da arte moderna?
Gullar - O Bispo é exatamente o contrário da arte moderna. Em seu delírio, ele quer salvar os objetos do mundo. Ele começou a desfiar o próprio uniforme de interno para bordar um manto sagrado. A sua busca é busca do sagrado. Não tem nada a ver com a sofisticação vazia da arte moderna. Só um louco se entrega totalmente a esta missão de salvar os objetos do mundo. É uma loucura que imprime esta força interior aos objetos do Bispo. A arte moderna é de decadência, de cerebralismo, de sofisticação exaurida. O que a arte precisa é de paixão e não de cerebralismo. No contexto pretensioso desta arte moderna todos se acham gênios. O Leonardo da Vinci, quando pediram a ele uma escultura, realizou um estudo reunindo todos os escultores que admirava no passado. Hoje o sujeito enrola três tijolos com arame, manda para a Bienal e diz que é arte. Na Bienal de Veneza, eles aceitaram um açougueiro que tinha cortado uns pedaços de tubarão. Agora não é mais necessário aprendizagem artística. Nas bienais nós temos açougueiros, marceneiros, eletricistas, cineastas. Li que Almodóvar expôs na Bienal de Veneza. Eu queria perguntar a ele se para ser cineasta não é preciso aprender a linguagem do cinema.
J.B. - E, agora, que perspectivas vê para a arte diante do mundo?
Gullar - Acho que o que a arte tem de fazer é parar de falar sobre ela mesma e começar a falar do mundo. Nós temos 40 mil anos de arte falando do mundo e dos problemas do homem no mundo. A arte de voltar a falar da vida.